

A Nota prévia e a Introdução a este corpo antológico, explicativas e introdutórias dos textos que organizam este volume, de autoria do seu coordenador científico, Professor Rui Loureiro, dispensam-nos de substancial prefaciação editorial deste número da RC. Tudo, no essencial, já consta naquele enquadramento para esclarecer o leitor sobre a sequência de autores e crónicas, e o iniciarem em mais profunda leitura das imagens reportadas.
Honra-se a RC com publicar mais uma edição que, além de densa e apaixonante matéria de leitura, constitui, sobretudo para os historiadores chineses, um foco informativo que melhor ilumina os primórdios da aproximação do povo português à China e permite e estimula mais profunda análise da "visão mútua" que daí foi resultando.
De reter, sobretudo, é a prevenção do organizador e seleccionador dos textos sobre a coloração apologética que, de começo ao fim, perpassa quase invariavelmente os relatos, cronologicamente ordenados, e que percorrem cerca de 150 anos de "observação" do universo chinês. Uma primeira fase de "observação" indirecta, uma segunda fase de experiência vivencial in loco.
Tinha a Europa post-renascentista, a Europa super-civilizada no concerto internacional das nações e culturas, razões para se deslumbrar com o gigantismo e o requinte de um Império, que se lhe revelava superior em vastos aspectos culturais e sócio-políticos.
Em termos de organização do estado, a "hierarquia celeste" ou "burocracia divina", majestosa pirâmide administrativa, configurava uma verdadeira "república das letras", culminada pelo Imperador, meritocracia modelar na história das civilizações passadas.
Estão ainda por delucidar as profundas, sempre misteriosas, causas da decadência chinesa, que começa a evidenciar-se na história imediatamente antes da chegada dos portugueses ao oriente extremo. Na sua longa investigação e meditação, não encontrou Joseph Needham, a nosso ver, cabal explicação para o fenómeno de se ter assistido ao emurchecimento da tecnologia na China, ao mesmo tempo que se verifi-cava uma inversão desta situação na Europa.
Seja como for, parece-nos claro que, se numa primeira fase a mitificação urdida pelas crónicas era instrumento de atracção às "partes da China", de militares, comerciantes e missionários, na segunda fase o apologismo de certo discurso pressupõe nos autores jesuítas uma "política informativa", defensora do seu exclusivo na tenência da Missão do Extremo Oriente, que era invejada por outras Ordens.
Em dois aspectos “depreciativos” confluem as avaliações de vários cronistas: a abundante prática da sodomia e a aparente "fraqueza" dos povos chineses. Será, sempre, superficial, a primeira visão do Outro. E desfocada: filtrada pelas lentes identitárias do observador. Nos dois casos referidos, por precedência do dogmatismo moral e parco conhecimento da tradição antropo-cultural do Outro.
O grande Império do Meio, vislumbrado em primeiro lugar por olhos portugueses, é uma grande, a derradeira e imensa, civilização agrária; era um universo feminino e lunar, caracterizado e tutelado por tudo o que aquela simbologia comporta.
Assim o vimos sempre, nos ritmos próprios do calendário, na teatralização do poder político, na ence-nação da potência militar, na sublimação das agressividades, no primaciar do ritual.
É fraco, o poder que necessita a acção violenta, as práticas repressivas. Ao contrário, o Imperador deve ser respeitado, indiscutivelmente obedecido, porque concentra o carisma da autoridade temível que dis-pensa exercer-se. Ele projecta a máxima imagem do poder. É um vazio exteriorizado em plenitude. Um eixo absoluto; encarnação do mais puro Yang. É o Filho do Céu.
A ele se ordenam e subordinam as províncias, as aldeias e as famílias, como se vassalizam os estados vizinhos circundantes do grande Meio.
Havia uma passividade, melhor, uma pacificidade chinesa, que lhe advinha desta forma superior de ritualizar o poder, a força e a agressividade, dentro e fora das suas fronteiras. Como sublimação e dissuasão.
A singular aventura do eunuco Zheng He, ao contrário de dilatação expansionista, ficou bem caracteri-zada, nos limites dos seus modos, como necessidade de uma reencenação da grande potência chinesa na orla dos tradicionais estados avassalados.
Parecem efeminados, aos olhos dos primeiros ocidentais, alguns hábitos e comportamentos do homem chinês em sociedade, homem ocidental que está em pleno segundo ciclo da sua civilização guerreira, perdida a memória da ética cavaleiresca.
Prenhes de dogmatismo moral e associando-lhe os castigos bíblicos do dilúvio de fogo, muito escandalizadiços se mostraram os cronistas jesuítas da China ante o que designaram de "pecado nefan-do". O Cristianismo fizera esquecer a Grécia, e Roma, e as monarquias orientais.
De facto, os eunucos eram na China uma instituição polarizada nos centros do poder, da corte central às cortes de vice-reis e mandarins. Era vulgar, nessa China Imperial, a emasculação, para serviços nos gineceus de concubinas. O livro Chou Li refere-se à sua prática desde a Dinastia Zhou (1100 a. C.). Em 1460, numa batalha contra os Miaos, no Sul, foram capturados 1565 efebos que foram castrados para ancilagem de eunucos.
Nos bastidores das alcovas e labirintos das cortes, os milhares de eunucos, em natural associação e aliança com as damas, tornavam-se menos viris e mais poderosos. Muitas vezes, nefastamente poderosos, através do jogo da intriga, da espionagem, dos tráficos de influências, dos manobrismos de um poder concentrado na pequena geografia espacial de um palácio e seus jardins.
Foi tardia, a instalação dos padres jesuítas na Corte de Pequim, para assistir ao intestino esbarrondar da Dinastia Ming, muito por força da corrosão exercida pela corte de eunucos cortesãos, sobretudo a partir do Imperador Yongle. À semelhança do que para trás acontecera no arruinamento de várias dinastias -Han do Leste, Tang e Song -, começando desde a Dinastia Qin (210 a. C.), em que o governo caiu em mãos do eunuco Zhao Gao.
Os primeiros cronistas da China terão "visto" este fenómeno de outiva, e certamente o julgaram sobre-tudo nas suas exterioridades sensuais.
Mas, sem dúvida, conheceram mais tarde os padres Jesuítas, no imo da Corte, as repercussões políticas das tentativas controlistas dos eunucos. E se disso não curaram no relato, foi na obediência àquela regra de ouro que manda silenciar os maus exemplos para que se não espalhem.
Da "feminidade" dos homens chineses se dá também conta Mateus Ricci, na sua História (1608-1610):
"Entre nós, considera-se agradável ver um homem armado, mas para eles isso é mal visto, e receiam ver algo tão horrível. E assim não conhecem nenhuma disputa ou tumulto tão usual para nós, quando nos vingamos de algum insulto recorrendo a armas e à morte. Eles consideram que o homem mais honorável é o que foge e não deseja ferir ninguém."
Assim Ricci se sente "decepcionado" com o exército chinês, onde vê sobretudo a busca teatral da eficiência, a pompa ou o exibicionismo das manobras de grande mise-en-scène. Espanta-se com a formi-dável utilização de pólvora em grandiosos festivais de fogo de artifício, mais do que na aplicação de efeitos bélicos eficazes. Verifica o baixo prestígio social da classe e da função castrenses:
"Enquanto entre o nosso povo os mais nobres e corajosos se tornam soldados, na China são os mais baixos e covardes que se dedicam aos assuntos da guerra."
Em 1583 escrevia Ricci ao governador espanhol de Manila:
"Para lhe dizer a verdade, por mais que eu escrevesse a Vossa Honra sobre os chineses, eu não diria que são homens de guerra, pois, tanto em sua aparência exterior como no íntimo dos seus corações, são como mulheres: se alguém lhes mostra os dentes, fazem-se humildes, e qualquer um que os sujeite pode pôr-lhes o pé no pescoço. Todos os dias, os homens levam duas horas para fazer seus penteados e se vestirem meticulosamente, dedicando a isso todas as horas agradáveis de que dispõem. Entre esses homens, fugas, injúrias, e insultos não constituem motivo de vergonha, como para nós; antes mostram uma raiva feminina e puxam os cabelos uns dos outros, e quando se cansam disso, tornam-se novamente amigos. Raramente se ferem ou se matam mutuamente, e mesmo que o quisessem, não têm os meios para tal, não só porque existem poucos soldados, mas a maioria deles não tem sequer uma faca em casa. Em suma, não há o que se temer deles, mais do que uma grande multidão de gente (...)."
Torna-se-nos evidente que a sociedade apresentada ou indiciada nas crónicas corresponde a um estado superior de civilização onde a agressividade era sublimada e ritualizada.
Mas parece também claro que, nestes textos citados de Mateus Ricci, e noutros de cronistas vários, a reportagem da "fraqueza" e inaptidão bélica do grande império chinês encobria o incentivo velado a uma aventura de conquista, por um poderoso país europeu.
De vários planos para tanto congeminados, sabemo-lo de notícias históricas. Do que mais tarde foi intentado e feito, ficaram os factos conhecidos.
A vários títulos hábil, previdente e prudente foi a classe política Ming, tolerando a instalação dos portu-gueses em Macau. Não terá daí resultado a garantia da integridade sínica, pelos dois séculos seguintes?
De qualquer forma, e em resumo, é evidentemente positivo o balanço das primeiras imagens da China colhidas na Literatura ibérica, sobretudo as que transparecem nas crónicas portuguesas dos Séculos XVI e XVII, preâmbulo de uma apaixonante descoberta que a Europa iria fazer da China pelo Século XVIII adentro, e de que são provas as sucessivas reedições de algumas obras mais informadas do Império do Meio.
O Director da Revista de Cultura
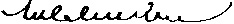

desde a p. 5
até a p.