Cabe justamente nesta "Crónica Macaense" uma evocação do recentemente falecido poeta popular macaense J. J. Monteiro, conhecido como "poeta-soldado".
Entre os macaenses, toda a gente o conhecia. Quem ia chegando, depressa tinha a revelação do seu nome de autor de poesia na lombada do grosso volume "Macau vista por dentro", longa peregrinação simples aos lugares, gentes, paisagem e alma da Cidade do Nome de Deus.
Para o deixar lembrado e para o dar a conhecer, RC transcreve o belo texto evocativo e crítico do Pe. Benjamim Videira Pires, prefácio à edição de "Macau vista por dentro" ("O Autor e a sua Obra") e o poema "Os Macaenses".
José Joaquim Monteiro, filho de José Luís Ferreira e de Maria José Guedes Monteiro, nasceu no lugar de Pereiro, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu, Portugal, aos 10 de Fevereiro de 1913.
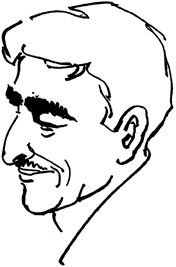
Com cinco anos de idade, emigrou, na companhia da avó paterna, para Belém do Pará (Brasil), de onde regressou aos 11 anos. Estas viagens transatlânticas enraizaram nele o espírito de aventura e independência, que o impeliu a deixar o horizonte limitado da aldeia natal e a fixar-se no mundo cosmopolita de Lisboa, onde se empregou em diversos ofícios: marçano, «rei da graxa» e vendedor ambulante.
«Eu a tudo me agarrava, Para ganhar o meu pão».
As saudades da mãe e as privações da vida, porém, caldearam-lhe o temperamento, dotando-o de um humanismo e de uma empatia universais, com «a alma das coisas» (Wenceslau de Morais) e com o sofrimento dos seus semelhantes -componentes estas fundamentais de todo o artista.
Alistou-se e incorporou-se no Exército Português em 1932 e, passando ao efectivo, embarcou para Macau, no ano de 1937. Aqui, passou no exame do primeiro curso das escolas regimentais, com a classificação final de 10 valores. Como ele próprio conta, o seu oficial-professor perguntou-lhe, a determinada altura da prova: « - O que é que foi fazer D. Afonso Henriques ao Brasil? » Sem se dar por achado, o ladino magala respondeu, com o maior à-vontade: «- Meu capitão, penso que foi fazer o mesmo que D. Sancho l à Índia... ». Eis outra das suas qualidades poéticas, o humorismo ou, dum modo geral, o sentido intuitivo («o poeta nasce») da função conotativa ou simbólica da linguagem.
Neste Território, «bebeu da água do Lilau», enamorando-se da sua gente e dos seus encantos. Constituiu família, mas, terminada a Guerra, voltou com a mulher e os filhos à Metrópole. Embarcaram no «Colonial», que largou da «Rada» do Porto Exterior, «no dia dez de Janeiro» de 1947.
Em virtude de sofrer de osteomielite no braço esquerdo, o que lhe provocou uma leve impotência funcional desse membro, J.J. Monteiro licenciou-se do serviço militar. O Socorro Social alojou-o, então, com toda a família, na colónia da FNAT (Caparica); e, mais tarde, com o subsídio da mesma obra de assistência, pôde habitar uma casa arrendada.
A crise económica do após-Guerra e as saudades de Macau, para onde os amigos e sobretudo a esposa o atraíam, decidiram-no ao regresso ao Extremo Oriente, na Primavera de 1951. Custeou-lhe as passagens o então Ministério das Colónias.
De novo na Cidade do Nome de Deus, o «poeta-soldado», como era chamado pela comunidade portuguesa, empregou-se, de princípio, na SOTA (Companhia de Navegação entre Macau e Timor), na padaria «Sortes», e, por fim, como contínuo do «Liceu Nacional Infante D. Henrique», de cujo cargo se reformou em 1972.
A poesia é uma experiência vital que nasce, por impulso espontâneo, na alma do artista. Não prescinde da inteligência nem do sentimento, mas ultrapassa-os. É um conhecimento de intuição e quietude, que ocorre no centro da pessoa e empolga o nosso eu mais profundo. É o contacto ou melhor a «co-presença do poeta com o acto existencial ou a última perfeição das coisas» (Marcel de Corte), naquele ponto único e indefinível em que elas dependem da Beleza Infinita, o Criador. Por isso, o poeta lembra um místico ou um sonhador, que apenas fala, por símbolos, alusões e analogias, do seu mundo transfigurado e dos «campos de possibilidades» que cria.
Há pessoas que nascem com predisposição para poetas. J.J. Monteiro, desde menino e moço, de tanto ouvir, nas desfolhadas e romarias da sua terra, as cantigas à desgarrada e os romanceiros do povo, acompanhados à viola, principiou logo a arriscar os primeiros vôos, pelo céu diáfano da poesia.
Já na primeira comissão militar, em Macau, ele escreveu em prosa e verso e participou em récitas para marinheiros e soldados, nos Teatros Capitol, Vitória e D. Pedro V, no Instituto Salesiano da Imaculada Conceição e no Clube de Sargentos. Há produções suas dispersas pela antiga revista «Religião e Pátria» e outros periódicos desta Cidade.
Em 1939, via o prelo o seu primeiro livro de poesia, intitulado «Minha viagem para Macau». No ano seguinte, publicou a «História dum soldado», que conheceu mais três edições: em 1952,1963 e 1983. Outra obra poética, «De volta a Macau», de 1952, foi reeditada no ano passado.
A sua obra principal, MACAU VISTA POR DENTRO, que agora sai a lume, a expensas da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, demorou 24 anos a ir ao prelo.
Honestamente, J. J. Monteiro tece nela a sua auto-crítica:
<<É um livro simples, mas que tem a graça De, em versos pobres, falhos de harmonia, Ao sabor popular,>>
cantar a história, as paisagens, os monumentos, as lendas, os costumes, as festas, as comidas, as diversões, numa palavra, tudo o que há interessante, em Macau.
A verdade, porém, é que quase todos os versos têm harmonia e se lêem com gosto, revelando mesmo o autor uma extraordinária facilidade métrica. O excesso desta qualidade - que levou Ovídio a escrever que «era verso tudo quanto tentava dizer» - pagaram-no Guerra Junqueiro, Mendes Leal e o nosso «poeta-soldado», com bastantes versos puramente descritivos e realmente «pobres» de poesia. Isto acontece até com os génios: Homero e Camões, por exemplo. Nem todo o oceano são pérolas...
Deparamos, todavia, neste grande e único livro, com muitas poesias de «indiscutível qualidade», quer no género lírico, quer épico, quer humorístico, quer narrativo.
Uma das estrofes mais felizes chama a Camões «grande Adamastor da ideia» (p. 98). A Lenda das Sete Irmãs merece figurar numa Antologia, a par do Romance da Mãe que Vendeu o Filho. Colocamos entre os capítulos melhores, «O Cheiro do Oriente», «Cidade do Nome de Deus», as duas lendas do Templo da Barra, a minuciosa descrição do jogo do mah-jong, a explicação dos doces e petiscos da cozinha luso-chinesa e a hilariante diferença entre o modo-de-ser chinês e ocidental.
As fontes em que J.J. Monteiro se fundou, para compor a parte histórica principalmente, foram Jaime do Inso, Francisco Rego e Luís Gonzaga Gomes (p. 353).
O humorismo mantém o leitor alegre, até às últimas páginas. E sabemos que o autor tem ainda inédita uma colecção de anedotas, que encheriam um almanaque...
Enfim, uma Obra notável esta, de carácter popular, sim, mas cheia de ritmo, emoção, beleza e poesia.
OS MACAENSES
Poesia Seleccionada do livro "Macau vista por dentro".
Vou falar dos macaenses
Desta simpática gente;
Descendentes de europeus,
São-no todos, geralmente,
Di-lo Fernão Mendes Pinto:
São descendentes por sina
Dos primeiros portugueses
Que vieram para a China.
Em Liam-Pójá havia,
Por virem nas caravelas,
Umas trezentas mulheres,
Portuguesas todas elas.
Logo após a fundação
Desta nossa Macau bela,
Só lusos e lusitanas
Se estabeleceram nela.
Depois foram vindo outros
E a pequena povoação
Foi aumentando e crescendo
Na sua população
E com ela esta cidade
Do Santo Nome de Deus.
Que é hoje o maior orgulho
De todos os filhos seus.
Nobres filhos, descendentes
Dessa raça lusitana,
Com um ou outro, à mistura,
De mãe malaia ou indiana.
Todavia, os macaenses
São na generalidade
Lusos de bem puro sangue
E nisso sentem vaidade.
De origem china, são poucos,
Por causa da timidez
De toda a mulher chinesa
Para com o português.
Só nestes últimos tempos
É que se têm casado
Portugueses com chinesas
E até bem se têm dado.
Os filhos nascem perfeitos!
Nota-se neles com graça
Uma diferença grande
Do puro chinês de raça.
Mas há muitos macaenses
Filhos só de pais chineses,
Que pelo santo baptismo
Se tornaram portugueses.
E fácil é distinguir
Dos bons filhos de Macau
Qualquer desses, conhecidos
Cá entre nós, por «Chôn Kao».
«Chôn» quer dizer: «entrar»,
«Kao» religião, ou seja:
- O que entrou como cristão
Para a nossa santa igreja!
Estes logo a gente vê
Serem de cor amarela,
Enquanto que os macaenses
Têm a face mais bela!
Os velhotes são simpáticos,
Os jovens muito bonitos,
Encantadoras as moças,
Um amor os pequenitos!
Sejam puros ou mestiços,
Não têm, como o chinês,
Nariz chato, olhos rasgados,
Nem a amarelada tez.
As macaenses, então,
São duma tal elegância,
Que, até vestidas à china,
Notam-se logo à distância!
Quando olhamos para elas,
Que olhos repletos de encanto!...
Tão bonitos, tão perfeitos,
Que são de tentar um santo!
São lindas nos seus abafos
E quando chega o Verão
Vêem-se umas de calças
E outras de fino calção.
Mas tudo isto é a moda
Que acabou com a antiguidade,
Com os trajes que hoje vestem
Só as pessoas de idade.
Nem as moças gostam já
(Por vergonha certamente)
Da calça moura e baneane
Que usavam antigamente...
Nem mesmo da saia branca,
Da cabaiazinha chacha,
Por ser um velho costume;
Antes, tanguinha de cacha!
Vê-se hoje a rapaziada
De calças à americana,
Lenço e botas à cow-boy,
Blusa e camisa hawaiana!
Preferem as raparigas
As blusinhas decotadas,
Calçõezinhos muito curtos,
Calças ao corpo apertadas!
Sobressaem entre aquelas
As que mais vergonha têm,
Com seus vestidos bonitos
Que lhes ficam muito bem!
E que direi das que andam
Quase nuas hoje em dia?
Não chamo a isto indecoro,
Mas somente economia.
Mais a mais, que nos importa
A nova moda e a vaidade?
Andem bem ou andem mal,
Tem desculpa a mocidade.
Só querendo ser sincero,
Tudo expondo com clareza,
E que a mal ningém me leve
Uma tamanha franqueza!
Vêem-se «chinas» bonitas,
Mas, sob um ponto de vista,
Nenhuma que tenha as graças
Da formosa macaísta!
São uns amores-perfeitos,
Que roubam o coração!
E eles então umas jóias,
Pela sua ilustração!
Hoje o nosso macaense
Tem cultura e tem saber;
Já não fala o seu «patois»
Difícil de compreender.
Muito embora o seu sotaque
Tenha um outro tom de voz,
O luso e pátrio idioma
Fala tão bem como nós.
Alguns, os mais eruditos,
Por seu merecido grau,
Desde há muito que perderam
A pronúncia de Macau.
Pronúncia que na fonética
Alguns defeitos encerra,
Devido às estranhas línguas
Que se falam nesta terra.
Fala-se inglês, espanhol,
Mouro, china, japonês,
E, numa «salada russa»
Vem à baila o português!
Não é raro a gente ouvir
Por aí muita asneirinha,
Trocar o teu pela tua
como meu mãe e pai minha!
E poliglotas não faltam
Feitos de meia colher,
Misturando o «português»
Com outra língua qualquer.
Mesmo os metropolitanos,
A sério e por brincadeira,
Seu idioma assassinam
Falando desta maneira:
- O. K., Linda, adeus, bye-bye,
Senhorita, é com você,
Se há outra A-Muitão tai-iát,
Moi!... Minha nunca sabê!
Uma mistura de línguas
Que daria um bom guisado!
Pobre preto-guês, nem sabe
De que terra é já, coitado!
Mas pondo de parte agora
Estes rafeiros linguistas,
Falemos sobre o dialecto
Dos antigos macaístas.
Para vos dar uma ideia
Desse seu «patois» antigo,
Queiram ouvir umas quadras
Que recitou um amigo:
- Pescu já dá fula, -
Çabola contente,
Nhonhonha bixigosa
Sab 'inganà gente.
Eu querê pá vôs,
Vôs querê pá ôto,
Deus Iô castigá,
Fazê vosso olo tôrto.
Passá vanda,
Travessa, uvi matá ave,
Sangue, fazê tinta,
Escrevê novidade.
Lio, lio, lorcha vai Cantão
Buscá seda fazê quimão,
Nôvo, nôvo, nhonhonha vesti,
Vêlo, vêlo, limpá chão.
Para quem não compreenda
Palavras tão esquisitas,
Eis aqui a explicação
Das quatro quadras escritas:
- Pêssego já dá flor,
Cebola contente,
Senhora bexigosa
Sabe enganar a gente.
Eu quero muito a vós,
Vós quereis muito a outro,
Deus há-de vos castigar,
Fazer-vos um olho torto.
Passa de banda,
Na travessa, ouvi matar aves,
Do sangue delas fazer tinta
Para escrever novidades.
Rema, rema, a lorcha que vai para Cantão
Buscar seda para fazer um quimão
Novo, novo, senhora vesti-lo,
Velho, velho, serve para 緯 limpar o chão.
Era esta a linguagem
Dos macaenses de outrora;
Mas na boca das velhinhas,
Outra não se ouve inda agora:
- Nhónha, nhónhajá chegá,
Rabo torcê qui torcê,
Nada querê anunciá,
Qui cusa logo fazê?
Quanto aos usos e costumes
Cá do povo macaísta
É viver e comer bem,
Ser alegre e desportista!
Jogam bem o futebol,
Dando aos de fora lições.
No ping-pong, hóquei e ténis,
São também uns campeões!
E a maior preocupação
Dos macaenses, na vida,
É estudar para depois
Entrarem na insana lida.
Até aos dezoito anos,
Não têm outros cuidados.
Por isso, além de instruídos,
São honestos, delicados.
Têm um bom coração,
Matam a fome à pobreza,
E a todos recebem bem
Dando assento à sua mesa.
E não há no mundo inteiro
Melhor mesa nem cozinha
Que a dos nossos macaenses,
Mesmo em casa pobrezinha.
É um prazer assistir
Aos seus jantares e festas,
Onde há boas iguarias,
Levezinhas e indigestas.
E até o mais exigente,
Lambareiro ou comilão,
Gosta dum bom chau-chau pele
Com molho de balichão.
Minxi, brêdo raba-raba,
Diabo, tamarinhada,
Galinha chau-chauparida,
Apa bico, goiabada.
Capela, vaca cabad,
Bagi, porco bafá-assá,
Galinha frito amarelo,
Dodol, chau-chau lacassá.
Ladu, peixe depinado,
Caldo de carne com lula,
Barbá, bibinca de rábano,
Bicho-bicho, fula-fula.
Chá gordo, bolo menino,
Saran surabe, aluar;
Doces, manás, acepipes,
Que são de nos consolar!
Comeres deliciosos
E também nada baratos;
Mas vejamos mais ou menos
De que constam estes pratos:
-Chau-chau pepe; pel' de porco,
Pé, costeletas com molho,
Chouriço, pato salgado,
Galinha e couve repolho.
Balichão é um molho, feito
De camarão miudinho
Em pó, com folhas de louro
E pimenta em grão e vinho.
Minxi é carne tenra e magra
De porco ou vaca trilhada,
Com sutate doce e branco,
Banha e cebola picada.
Brêdo raba-raba: várias
Hortaliças misturadas,
Só com banha e «balichão»,
Num tacho ao lume fritadas.
Diabo: ovos, porco assado,
Caril de vaca estufada,
Mostarda, azeite, tomate,
Presunto e galinha assada.
Leva ainda esta comida,
Batatas e outras misturas:
Um prato de arrebentar
Mesmo ao diabo as costuras!
Tamarinhada: um guisado
De camarões com cominhos,
Açafrão, salsa, cebolas,
Malaguetas, tamarinhos.
Galinha chau-chau parida:
(Outro prato de «arrebenta»!)
Galinha, açafrão, gengibre,
Vinho chinês, sal, pimenta.
Apa bico: bolos feitos
Com farinha de arroz, banha,
Porco, hortaliça salgada...
(Mimo de quem os apanha!)
Goiabada: um doce feito
De goiaba (o que mais há),
Havendo ainda a perada,
Outro doce de «alto lá»!
Capela é carne de porco
Moída e no forno assada,
Com ovos, queijo, pimenta,
Sal e amêndoa pisada.
Vaca cabad: : um pratinho
Todo de origem indiana,
Próprio para parturientes,
Como fina «comezana».
Bagi: s'pécie de arroz doce
Que se come com deleite,
Feito (dizem) simplesmente,
De arroz pulú, coco e leite.
Porco bafá-assá: de porco,
Carne comprada no talho,
Com muito açafrão, piment,
Sal, cebola verde e alho.
Galinha frito amarelo:
Galinha ou galo capão,
Com pimenta, sal e alho,
Cebola seca e açafrão.
Dodol: doce de perada,
Farinha de arroz pulú,
Amêndoas, coco, manteiga,
Jarga, (ficando um beijú!).
Chau-chau lacassá: de arroz,
Massa, (a mais fina que há)
Com porco, ovos, gengibre;
Servido à ceia ou ao chá.
Ladu é também um doce
Que entra em muita refeição,
Feito só de jagra e coco,
Farinha e pó de feijão.
Peixe depinado; quando
Já cozido e desfiado,
Num tachozinho a fritar
Desta forma é preparado:
- Põe-se-lhe manteiga e alho,
Sal, pimenta, «balichão»,
Umas gotas de vinagre,
Malagueta até mais não.
Caldo di carne com lula:
De tão forte, causa arrotos
E é feito de lulas secas,
Com porco e raiz de lótus.
Barbá: espécie de doce
A que apreço se consagra,
Feito apenas com manteiga,
Farinha de arroz e jagra.
Quanto à bibinca de rábano,
Depois de estar preparada,
Fica uma massa compacta
E é-nos servida à talhada...
Faz-se com rábano ou nabo,
Farinha de arroz, presunto,
Cebola, carne de porco
E um pedacinho de unto.
Bicho-bicho são também
Pequenos bolinhos fritos;
Levam sal, farinha e ovos
E açúcar aos quadraditos.
Fula-fula é um bolinho
De arroz seco e amendoim.
Bolo-menino: uma espécie
De bolacha ou coisa assim.
Chá gordo é refeição lauta
Que alguns costumam a dar,
(Passada a hora do chá)
Horas antes do jantar.
Saran surabe: outro bolo,
Mas este, tipicamente
Macaense, e é tão gostoso
Qua até nos «regala o dente»...
Só de farinha de trigo
E pé de feijão torrado,
«Corn-starch», ovos e coco,
Este bolo é preparado.
Aluar: bolo festivo
E muito tradicional...
De farinha, coco, amêndoa,
Que se faz pelo Natal.
Além destas iguarias,
A outras se hão-de dar vivas,
Quando expostas, sobre a mesa,
À gula dalguns convivas.
Se não houver convidados,
(O que é raro acontecer)
Ou sozinho ou em família,
Come-se com igual prazer.
Sim, porque o maior consolo
Que o bom macaense tem,
Seja de noite ou de dia,
É comer e comer bem!
Aqueles que são mais pobres,
Que menos podem gastar,
Pequeninas guloseimas
Andam sempre a mastigar.
Comer bem, fazer desporto,
Torna uma pessoa harta,
E portanto, dizem eles:
-«Morra Marta, morra farta»!
E aqui temos mais ou menos,
Sem mentiras nem urdumes,
O que são os macaenses
Nos seus usos e costumes.
A verdade não ofende,
Mas se alguém lesei contudo,
Só tenho a pedir desculpa
Porque a realidade é tudo.
Peço-te, meu caro amigo,
Que mal de mim nunca penses;
E crê na boa amizade
Que dedico aos macaenses.
desde a p. 102
até a p.