

T endo morrido em 1935, Pessoa só há poucos anos conquistou fama internacional. Testemunha-o a sua obra, traduzida em vinte línguas, in-clusive várias línguas extra-europeias. Se a univer-salidade de uma obra literária também se pode me-dir pela sua capacidade de se dirigir a leitores de países com as mais diferentes culturas, pode-se na verdade dizer que Pessoa é hoje um escritor univer-sal. À semelhança de grandes autores como Cervan-tes, Shakespeare, Dostoiewskij, ele é portador de uma mensagem universal; os seus conceitos são en-doxa, ou seja, são conceitos que valem para todos em toda a parte. Como afirmou recentemente Ro-man Jakobson, "o nome de Pessoa merece ser in-cluído na lista dos grandes artistas mundiais nasci-dos no curso dos anos Oitenta do século XIX: Stra-vinski, Picasso, Joyce, Braque, Chlebnikov, Le Corbusier. Todos os traços característicos destes ar-tistas se encontram reunidos no grande português". Mas em que é que consistem os endoxa da mensa-gem literária de Pessoa, a sua universalidade?
Geralmente os endoxa pertencem à esfera dos conteúdos: o amor, a morte, a traição, a alegria, etc. são categorias universais, e na comunicação literária constituem justamente o que se chama os conteúdos da própria comunicação. No sentido que, para dar-mos um exemplo banal, o conteúdo do Dom Qui-xote é a utopia, o conteúdo dos dramas de Shakes-peare são os vícios da alma humana, o conteúdo de Dostoiewskij são o delito, o castigo, o remorso, etc..
Mas para lá dos conteúdos dos textos de Pes-soa, nos quais se podem obviamente relevar com fa-cilidade as categorias universais (o sentimento da caducidade da vida, a nostalgia, o sentido do misté-rio da vida, etc.), creio que se possa considerar que a universalidade da mensagem reside não tanto no conteúdo quanto no modo em que é feita, na sua formulação.
Esta formulação é justamente a heteronímia e, como veremos, não consiste apenas num modelo formal, mas é um conceito de substância.
Mas o que é a heteronímia, o que é afinal esta "invenção" que Pessoa realiza no dia 8 de Março de 1914?
Antes de enfrentarmos esta pergunta, é necessário falarmos de um grande fantasma, de uma te-mível presença que erra pela literatura ocidental a partir do Romantismo. Este fantasma chama-se O Outro e paira sobre as obsessões dos maiores escri-tores europeus. Há um Outro nas Rêveries e nos "nocturnos" de Nerval, na loucura dionisíaca de Hölderlin, no maravilhoso de Achim von Arnim, nos abismos misteriosos de Hoffmann.
"Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou, antes, o meu pri-meiro conhecido inexistente - um certo Chevalier de Pas dosmeus seis anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me, com me- nos nitidez, de uma outra figura, cujo nome já me não ocorre mas que o tinha estrangeiro também, que era, não sei em quê, um rival do Chevalier de Pas... Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida - ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer saber que não fo-ram realidades ".
Esta explicação é de 1935 e pertence à carta que Pessoa escreveu ao crítico Adolfo Casais Mon-teiro que lhe tinha pedido uma explicação detalhada da sua heteronímia. Trata-se portanto de uma poé-tica elaborada a posteriori, como aliás todas as poé-ticas, e portanto, como todas as poéticas, sujeita a um arranjo, a um arrumo que prevê uma certa mar-gem de falsificações, mesmo inconsciente. E toda-via essa poética não difere em substância dos apon-tamentos sobre o mesmo problema que Pessoa dei-xou durante a sua vida nos seus diários pessoais. Creio portanto que é plausível considerá-la substan-cialmente verdadeira e continuar a sua leitura:
"Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, en-tre as quais esta, sucedida já em maioridade. Ocor-ria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo ou outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, imediatamente, esponta-neamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura-cara, estatura, traje e gesto-imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de distân-cia, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto, vejo... E tenho saudades deles(...).
Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia escrever uns poemas de ín-dole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular (não no estilo Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade), e abandonei o caso. Esboçara--se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis).
Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro - de in-ventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me não lembro como, em qual-quer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que final-mente desistira - foi em 8 de Março de 1914 - acer- quei-me de uma cómoda alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não consegui-rei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o ab-surdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e to-talmente... Foi o regresso de Fernando Pessoa Al-berto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua ine-xistência como Alberto Caeiro.
Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir - instintiva e subconscientemente - uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ri-cardo Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajusteio--o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E, de re-pente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem interrup-ção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos -a Ode com esse nome e o homem com o nome que tem."
Através destes trechos percebe-se a força e a concretização e ainda a novidade da invenção pes-soana. Os heterónimos não são simplesmente uns altar ego: a alteridade que Pessoa traz dentro de si, como todos os homens, nele encontra uma realiza-ção tão forte e tão definida que se projecta e subsiste numa autonomia completa. Os heterónimos são ou-tros-de-si, personalidades independentes e autóno-mas que vivem fora do seu autor.
Mas que característica têm estes "outros" a que Pessoa dá vida? Quem são e como são? Conti-nuemos a leitura da carta:
"Mais uns apontamentos nesta matéria... Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construi-lhes as idades e as vi-das. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me lembro do dia e mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Ca-eiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve pro fissão nem educação quase alguma. Ál- varo de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Ou-tubro de 1890 (às 1.30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está certo). Este, como sabe, é enge-nheiro naval (por Glasgow), mas agora está aqui em Lisboa em inactividade. Caeiro era de estatura mé-dia, e, embora realmente frágil (morreu tuberculo-so), não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 m de altu-ra, mais 2 cm do que eu), magro e um pouco ten-dente a curvar-se. Cara rapada todos - o Caeiro louro sem cor, olhos azuis; Reis de um vago moreno mate; Campos entre branco e moreno, tipo vaga-mente de judeu português, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase ne-nhuma - só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia ve-lha, tia-avó. Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu; depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, pri-meiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente de onde resultou o Opiário. En-sinou- lhe latim um tio beirão que era padre".
Para explicar o alheamento dos heterónimos de si próprio, um si próprio que Pessoa define sem-pre como ortónimo, Pessoa fez várias vezes a com-paração com as criaturas de Shakespeare. Campos ou Reis não são eu próprio, afirma Pessoa, assim como Hamlet ou o King Lear não são Shakespeare, no sentido que os sentimentos de Campos ou de Reis não são os sentimentos de Pessoa, assim como os sentimentos de Hamlet ou do Rei Lear não são os sentimentos de Shakespeare.
Tais personagens são pois um fingimento, mas os sentimentos que eles próprios experimentam são sentimentos "verdadeiros", ou seja, pertencem à verdade simbólica, são dotados de uma sua íntima verdade.
Pessoa definiu esta situação um fingimento ve-rídico e teorizou-o no bem conhecido poema Au-topsicografia:
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
que se chama o coração.
Tentemos seguir o raciocínio de Pessoa. Um poeta experimenta um sentimento. E como se en-carrega de transmitir esse sentimento através da li-teratura, que é uma forma de fingimento, é obri-gado de certo modo a fingir o seu sentimento verda-deiro. A este ponto chegamos ao terceiro grau, o do receptor. Quem recebe a mensagem conhece aquele sentimento mas não pode, pela força das coisas, ex-perimentar o mesmo sentimento (verdadeiro ou "fingido") de quem lho transmitiu. Através de um sentimento que chega até ele por via do fingimento, ele finge por sua vez um outro sentimento.
Mas até aqui poderíamos ainda falar de perso-nagens. Só que a operação de Pessoa, através da criação dos seus heterónimos, é uma operação ainda mais sofisticada. Com efeito as personagens de Pes-soa não são personagens normais que têm que viver uma história; são personagens que têm de fingir essa história. São criaturas, são poetas: ou seja, criaturas de ficção que, por sua vez, produzem a ficção da lite-ratura.
Essas criaturas de ficção e essa ficção da litera-tura, enfim essa particular e dupla verdade de Pes-soa, utilizam, como já dissemos, conceitos que va-lem para todos em toda aparte, isto é: conceitos uni-versais, endoxa.
Entre os vários conceitos universais que per-correm a poesia de Pessoa, gostaria de me deter num conceito que se apresenta de forma re-dundante e ao mesmo tempo com um amplo leque de nuancese de significados na obra do Poeta: a nos-talgia. Se procurarmos no dicionário de Morais a pa-lavra nostalgia encontraremos como significado glo-bal a seguinte definição: "grande desejo de tornar a visitar um país ou de rever qualquer pessoa ou ob-jecto que nos agradou".
Trata-se evidentemente de uma definição de dicionário e todavia ela colhe perfeitamente o signi-ficado do conceito de nostalgia. O objecto de nostal-gia é o irreversível, ou seja tudo aquilo que tem a ver com a esfera do passado. Muitas vezes este passado, especialmente quando se refere ao tempo decorri-do, é um irreversível absoluto. Nós podemos voltar a visitar lugares já visitados e podemos voltar a ver pessoas conhecidas, mas não podemos certamente reviver o momento em que visitámos esses lugares e o momento em que conhecemos essas pessoas. A nostalgia concerne portanto a um conceito elemen-tar que trazemos dentro de nós: que a vida não se pode repetir. Todos os nossos instantes, todas as nossas acções, todos os nossos gestos, enfim, tudo aquilo que nos é consentido viver, acontece só uma vez, não voltará a acontecer nunca mais.
É evidente que a literatura de todos os tempos frequentou este lugar peputado, este conceito que diz respeito à irrecuperabilidade do tempo. E assim acontece com alguns grandes poemas de Fernando Pessoa - raros, todavia.
Com efeito há uma diferença substancial que distingue os poetas que vivem em Pessoa dos poetas comuns: os heterónimos de Pessoa não têm diacro-nia, são sincrónicos, ou seja vivem no momento em que poetam. A eles se pode realmente aplicar, como a nenhuns outros, a definição de Octávio Paz - que os poetas não têm biografia e que a sua obra é a sua biografia.
Cada um de nós traz dentro de si o conceito elementar de que falava há pouco: que a vida é irre-petível. E todavia, todos nós vivemos como se isso fosse um conceito de somenos importância, porque se pensássemos nele enquanto vivemos a vida tor-nar-se-ia uma nostalgia paradoxal: a nostalgia do presente.
Ora as personagens de Pessoa, que escrevem, ergo sunt, que vivem só o presente, a imanência da sua escrita, trazem com eles próprios, insinuam exactamente esta subtilíssima e paradoxal nostalgia: a nostalgia do presente.
Mais do que qualquer outra criatura existente, que conhece a sua fugacidade e a sua caducidade, os heterónimos são conscientes, mesmo quando não o dizem, da fragilidade da sua existência. A vida deles é uma vida de fantasmas, de ectoplasmas, o seu san-gue é feito de tinta, a sua existência corre com a mesma velocidade do que a da caneta no papel, basta um ponto gráfico para lhes fechar a boca, o al-vismo da página branca pode engoli-los a qualquer momento.
Se a nostalgia do presente é uma nota caracte-rística de todos os heterónimos, cada um deles, na-turalmente, vive a sua nostalgia privada e específi-ca. Talvez valha a pena nesta sede tentarmos um breve exame da nostalgia na obra de três heterónimos de Fernando Pessoa: Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares.
Creio que se possa começar com a nostalgia de Ricardo Reis, porque é a nostalgia mais "antiga". As escolhas culturais de Reis, a sua simpatia pelos clássicos, a sua formação grega e latina, o inclinam para o desejo da ataraxia, o lugar sem tempestades dos Epicuristas; as suas escolhas são marcados pela renúncia sentimental e pela pura aceitação do mun-do fenoménico. Epicurista por escolha, mas tam-bém estóico e cínico voluntário, Reis escolhe não es-colher, submete-se à vontade incógnita dos deuses:
Não tenhas nada nas mãos
nem uma memória na alma,
que quando te puserem
nas mãos o óbolo último
ao abrirem-te as mãos
nada te cairá.
Colhe as flores mas larga-as
das mãos mal as olhaste.
Senta-te no solo. Abdica
e sê rei de ti próprio.
E também noutro poema:
Sábio é o que se contenta com o espectáculo
do Mundo,
e ao beber nem recorda
que já bebeu na vida,
para quem tudo é novo
e imarcescível sempre.
Imarcescível: o que não pode murchar, o que não apodrece. Poderíamos dizer que o ideal de Reis é um tempo parado, um mundo parado: um mundo que não conhece velhice e deterioramento - quase a ideia platónica do mundo, o seu arquétipo, a sua su-blimação. E se tal é o desejo de Reis, este desejo é também uma forma de nostalgia: a nostalgia de uma dimensão sem caducidade, a nostalgia do instante imóvel e suspenso.
E é esta, evidentemente, uma "nostalgia" clássica no sentido de Epicuro, ou uma "nostalgia" neoclássica no sentido de Goethe: enfim, no sentido de aqueles que provaram o desejo de subtrair-se à passagem temporal, de deter a película de instantes sucessivos que formam o tempo. "Instante, demora--te!", ou "Instante pára" exclama Goethe. Ricardo Reis, quando conta a história dos jogadores de xa-drez persas que à sombra da árvore continuam a jo-gar sem prestar atenção à guerra e às chacinas que os rodeiam, exprime um desejo análogo ao de Goethe:
Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia
tinha não sei qual guerra,
quando a invasão ardia na cidade
e as mulheres gritavam,
dois jogadores de xadrez jogavam
o seu jogo contínuo.
À sombra de ampla árvore fitavam
o tabuleiro antigo,
e, ao lado de cada um, esperando os seus
momentos mais folgados,
quando haviam movido a pedra, e agora
esperavam o adversário,
um púcaro com vinho refrescava
sóbriamente a sua sede.
Ardiam casas, saqueadas eram
as arcas e as paredes,
violadas, as mulheres eram postas
contra os muros caídos,
traspassadas de lanças, as crianças
eram sangue nas ruas.
Mas onde estavam, perto da cidade
e longe do seu ruído,
os jogadores de xadrez jogavam
o jogo do xadrez.
(...)
O que levamos desta vida inútil
tanto vale se é
a glória, a fama, o amor, a ciência,
como se fosse apenas
a memória de um jogo bem jogado
e uma partida ganha
a um jogador melhor,
A glória pesa como fardo rico,
a fama como a febre,
o amor cansa, porque é a sério e busca,
a ciência nunca encontra,
e a vida passa e dói porque o conhece.
O jogo do xadrez
prende a alma toda, mas, perdido, pouco
pesa, pois não é nada.
Ah! sob as sombras que sem querer nos amam,
com um púcaro de vinho
ao lado, e atentos só à inútil faina
do jogo do xadrez,
mesmo que o jogo seja apenas sonho
e não haja parceiro,
imitemos os persas desta história,
e, enquanto lá por fora,
ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida
chamam por nós, deixemos
que em vão nos chamem, cada um de nós
sob as sombras amigas
sonhando, ele o parceiro, e o xadrez
a sua indiferença.
Os jogadores de Ricardo Reis, de facto, não estão a jogar uma verdadeira partida. Cada um de-les está parado com o peão entre os dedos, num gesto imóvel e eterno: um gesto que é um puro ges-to, o sonho de um gesto. Enfim, a nostalgia absurda e paradoxal de um gesto sem movimento.
Ora acontece que nesta sua procura do ins-tante absoluto, da imobilidade eterna, Reis sub-mete-se a um processo que eu chamaria de desinfec-ção radical. Ele mata os micróbios do tempo e fica esterilizado a olhar, por trás do vídeo do seu esca-fandro, as bactérias que ele procurou evitar. Estas bactérias chamam-se vida, que Reis não quis, e da qual ele começa a sentir porém uma subtil nostalgia:
No breve número de doze meses
o ano passa, e breves são os anos,
poucos a vida dura.
Que são doze ou sessenta na floresta
dos números, e quanto pouco falta
para o fim do futuro!
Dois terços já, tão rápido, do curso
que me é imposto correr descendo, passo.
Apresso, e breve acabo.
Dado em declive deixo, e invito apresso
o moribundo passo.
E também outro poema, que diz:
Quando, Lídia, vier o nosso Outono
com o Inverno que há nele, reservemos
um pensamento, não para a futura
primavera, que é de outrem,
nem para o Estio, de quem somos mortos,
senão para o que fica do que passa -
o amarelo actual que as folhas vivem
e as torna diferentes.
O actual, o que é e que passa: eis, afinal, a ver-dadeira nostalgia, escondida e secreta, de Ricardo Reis. Uma nostalgia que lembra o conto de Eça de Queiroz no qual Ulisses, tornado imortal por Calip-so, inveja os mortais, a possibilidade de morrer e o tempo que ele deixou - e escolhe voltar a viver nele deixando para os deuses a imóvel eternidade.
A nostalgia de Álvaro de Campos apresenta--se desde logo como uma nostalgia metafísica:
Ah, todo o cais é uma saudade de pedra!
E quando o navio larga do cais
e se repara de repente que se abriu um espaço
entre o cais e o navio,
vem-me não sei porquê, uma angústia recente,
uma névoa de sentimentos de tristeza.
Estamos no princípio da Ode Marítima, e Ál-varo de Campos, passeando no cais ao amanhecer, começa a exercer a sua metafísica nostalgia:
Ah! quem sabe, quem sabe,
se não parti outrora antes de mim,
dum cais; se não deixei, navio ao sol
oblíquo da madrugada,
outra espécie de porto?
Toda a Ode Marítima está construída no uso do climax da nostalgia desencadeada pelo porto, pelo horizonte, pelo mar, e que se transforma em breve numa nostalgia do puro longe, da pura parti-da, da Distância absoluta:
Eu, o engenheiro, eu o civilizado,
gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista
só veleiros e barcos de madeira,
de não saber doutra vida marítima que a antiga
vida dos mares!
Porque os mares antigos são a Distância
Absoluta,
o Puro longe, liberto do peso do Actual...
(...)
Ah!, seja como for, seja por onde for, partir!
Largar por aí fora, pelas ondas, pelo perigo,
pelo mar.
Ir para longe, ir para Fora, ir para a Distância
Abstracta
Indefinidamente, pelas noites misteriosas e
fundas
levado como poeira, plos ventos, plos
vendavais,
ir, ir, ir, ir de vez!
Penso que não seja exagero afirmar que a Ode Marítima é a mais alta celebração moderna das des-cobertas e das viagens portuguesas. Uma celebra-ção depurada e transparente, despovoada de factos e de figuras, onde a viagem é só o espírito da viagem, a sua abstracção, o sentimento dela: é uma nostalgia categorial, vista por Pessoa como a verda-deira e mais profunda razão que motivou a grande aventura marítima de Portugal.
Mas a metafísica nostalgia de Álvaro de Cam-pos não se limita apenas a abstractizar o facto histó-rico e a vivê-lo na sua essência espiritual. Há outra espécie de nostalgia na poesia de Campos: uma nos-talgia oblíqua e, diria, virada do avesso, que tem como objecto não só que foi, mas o que poderia ter sido e o que poderia ser: a nostalgia do Possível. É esta nostalgia do Possível o signo mais inquietante e mais perto de nós, homens de hoje, que Álvaro de Campos nos comunica com os seus poemas da matu-ridade: e essa nostalgia significa em primeiro lugar uma não aceitação da realidade pragmática, uma ce-lebração do sonho, do desejo, da liberdade do espí-rito e da mente criadora:
Volta amanhã, realidade!
Adia-te, presente absoluto!
E também quer dizer, esta nostalgia, a angús-tia, o mal-estar, o enigma visível do tempo, a he-róica e irónica maneira de não acreditar completa-mente em si próprio, de se contradizer, de não se aceitar como entidade completa e totalizante:
Domingo irei pelas hortas na pessoa dos outros...
Campos não deseja o domingo para ir passear pelas hortas: ele tem a nostalgia de ser outra pessoa que possa passear na pessoa dele, quer experimen-tar uma felicidade "intermediária", uma felicidade que se supõe felicidade porque pertence a outras pessoas:
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, que felicidade há sempre!
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi.
São felizes, porque não são eu.
(...)
que grande felicidade não ser eu!
A felicidade mora em frente, fora de nós: e Ál-varo de Campos sabe. Ele não tem nostalgia da feli-cidade: tem nostalgia de um eventual e obviamente inexistente "outro" que pode ser feliz.
Da mesma maneira "oblíqua" e por assim di-zer fora dos eixos, Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, constrói a sua nostalgia no Livro do Desassossego, porventura o diário da nostalgia mais excêntrica de todo o século vinte. Uma nostalgia a que ele chama "a doença do mistério da vida".
"Saudades! Tenho-as até do que me não foi nada, por uma angústia de fuga do tempo e uma doença do mysterio da vida. Caras que via habitual-mente nas minhas ruas habituaes -se deixo de vel-as entristeço; e não me foram nada, a não ser o sym-bolo de toda a vida.
O velho sem interesse das polainas sujas, que cruzava frequentemente commigo às nove e meia da manhã? O cauteleiro coxo que me maçava inutil-mente? O velhote redondo e corado do charuto à porta da tabacaria? O dono pallido da tabacaria? O que é feito de todos elles, que, porque os vi e os tor-nei a ver, foram parte da minha vida? Amanhã tam-bém eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros. Amanhã tam-bém eu - a alma que sente e pensa, o universo que sou para mim - sim, amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas ruas, o que outros vaga-mente evocarão com um «o que será d'elle? ». E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos na quotidianidade de ruas de uma cidade qualquer».
Este transeunte a menos nas ruas de uma ci-dade qualquer, é hoje um transeunte a mais, invisí-vel mas existente, nestas ruas da cidade de Macau. E também é um transeunte a mais nas ruas de cada ci-dade do mundo onde a sua obra chegou. Porque Fernando Pessoa, tornado nobremente "Outro" pela vivência da arte, está hoje presente na cons-ciência de nós, homens do fim deste século.
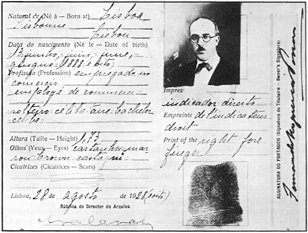
*António Tabucchi nasceu em Pisa (Itália) em 1943. Es-tudou na Universidade de Pisa e na Escola Normal Superior. É professor catedrático de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Génova. Foi bolseiro do Governo italiano e da Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa. É au-tor de vários ensaios sobre a literatura portuguesa, nomeada-mente sobre Camões, Barroco, século XX. É o tradutor italiano de Fernando Pessoa, em colaboração com Maria José de Len-castre (Fernando Pessoa, Una Sola Moltitudine, Adelphi, Mi-lão, 1979-1984, 2 vols.). Sobre a obra de Pessoa publicou recen-temente o livro de ensaios Pessoana Mínima, Imprensa Nacio-nal, Lisboa, 1984.
Como narrador publicou seis volumes de ficção, ficando conhecido na Europa como um dos mais representativos escri-tores da sua geração.
António Tabucchi esteve em Macau para investigar a obra e a figura de Camilo Pessanha, tendo feito uma conferên-cia sobre Fernando Pessoa, a convite do ICM, cujo texto se pu-blica agora nesta edição especial de RC.
desde a p. 17
até a p.