72.
POPULAÇÃO LETRADA E ILETRADA DO CONCELHO DE MACAU
POR FREGUESIAS E BAIRROS - 1896
</figcaption></figure>
<p>
É também de notar que da lista dos defuntos seculares, enterrados na Igreja do Colégio da Ma-dre de Deus até 1742, constam japonesas casadas com portugueses, mas não temos notícia de mulhe-res chinesas. Aliás Juan Baptista, feitor de Manila, registou, no século XVIII, que todos os portugue-ses tinham em casa mulheres chinesas, mas escra-vas.
</p>
<p>
Da análise dos registos paroquiais, as conclu-sões tiradas não podem ser muito rigorosas nem da-rem informações precisas acerca dos primeiros anos da fundação da cidade, porquanto os livros que che-garam até nós são muito recentes, datando, os mais antigos, do século XVIII, altura em que Macau esta-va empobrecida e a miséria, tanto moral como mate-rial, era <I>suma, </I> no dizer dos próprios párocos<RETLAB3002000040074><a href=#"LAB3002000040074") name="RETLAB3002000040074">73</a>.
</p>
<p>
No entanto, podemos tirar várias ilações do seu estudo: na freguesia da Sé, nos anos de 1802 a 1831, de setenta crianças baptizadas só doze são ne-tas maternas de chineses e paternas de portugueses ou de chineses cristãos, a inferir dos seus apelidos. Muitos destes, aliás, parecem-nos pertencer a famí-lias que, desde o século XVII, já estavam miscigenadas com chineses e, nalguns casos, eram descendentes de criações bem dotadas, tais como as famílias Remédios, Rosário, Xavier e Noronha.
</p>
<p>
É de notar que destes registos não consta ne-nhum nome de família macaense antiga dos estratos sociais mais elevados. Aliás, em vinte e nove anos, setenta nascimentos registados numa fregesia tão popu-losa como a da Sé, correspondendo a dois e meio por ano, parece-nos um número por demais pequeno, que tanto pode resultar de uma baixa taxa de fertilidade, como de um número muito reduzido de casamentos.
</p>
<p>
Pelo que respeita ao livro de casamentos da mesma freguesia, desde 1777 a 1784, regista-se exactamente o mesmo no que se refere aos apelidos de família. Em 1778, por exemplo, num total de treze casamentos, verificaram-se três, apenas, de ho-mens do Reino com raparigas não descendentes de chineses, numa percentagem de vinte e três por cen-to. Destes treze, seis portugueses sem ascendência próxima de chineses casaram com raparigas descen-dentes de chineses gentios, mas quase sempre por via feminina e com elementos das famílias Xavier e Rosário. Seria de grande interesse determinar se es-tes portugueses foram ou não pessoas sem fortuna nem títulos nem cargos bem remunerados, como su-pomos. O que é verdade é que não se encontra um só nome de antiga famíla macaense, repetimos, neste número de casais em que um dos cônjuges tem as-cendência próxima de chineses.
</p>
<p>
Relativamente à freguesia de S. Lourenço, onde, no século XIX, residiam as famílias de nível social mais elevado, a avaliar pelo elevado grau de escolarização (veja gráfico anterior) e de menor rela-ção entre o número de fogos e o número de casas, verificaram-se, também, um total de treze casamentos <I>de filhas da terra</I> com europeus, entre 1782 é 1787, e um só casamento de europeu com uma mulher chine-sa. Registou-se, também, curiosamente, o casamento de uma escrava timorense com um escravo cafre (em 19 de Maio de 1786), o que desmente a ideia, geral-mente aceite e divulgada por alguns autores, de que era vedado o casamento entre escravos em Macau.
</p>
<p>
Da análise global destes Arquivos parece po-der advogar-se que os casamentos <I>das filhas da ter-ra</I> ou eram homogâmicos ou preferenciais com eu-ropeus, tal como procuramos demonstrá-lo através das árvores genealógicas representadas nos quadros das páginas seguintes.
</p>
<p>
No século XIX, quando já principiava a verificar-se uma maior abertura da sociedade macaense à chinesa, começaram a registar-se casamentos, em maior número, com mulheres daquela ascendência, algumas porventura crioulas, mestiças não perfilhadas, ou chi-nesas adquiridas por compra. É de notar, porém, que continuam a predominar, entre nubentes, os apelidos Remédios e Rosário, acrescidos, então, do apelido Xavier, sempre que se tratava de um noivo filho de Macau. Consultados os livros de registos da freguesia de S. Lourenço, dos anos de 1822 a 1870, pode verifi-car-se que apenas foram registados, em cerca de cin-quenta anos, trinta e três casamentos de portugueses do Reino, em Macau, com mulheres de ascendência chi-nesa. É de assinalar, porém, que um Basto, um Paiva, um Miranda, um Marques, um Melo ou um Pereira da Silveira, não se encontram, a não ser por excepção, em qualquer das freguesias de Macau, no número dos ho-mens casados com raparigas chinesas ou de ascendên-cia chinesa. Da facto, os casamentos com as chinesas eram menosprezados e objecto de crítica na circunscrita socidade de Macau. Quando, em meados do século <B>XIX, </B> um filho do escrivão Francisco António Pereira da Silveira, da melhor sociedade da terra, casou com uma rapariga da antiga família Remédios, de ascendência chinesa, correu imediatamente pela cidade um pas- quim, cuja cópia foi enviada, mais tarde, por um paren-te<RETLAB3002000040075><a href=#"LAB3002000040075") name="RETLAB3002000040075">74</a> a João F. Marques Pereira.
</p>
<p>
Da consulta dos arquivos paroquiais e dos da-dos fornecidos por várias obras referentes à genealogia das principais famílias macaenses, cons-truímos vinte árvores genealógicas de cuja análise se podem tirar várias conclusões, em apoio da nossa hipótese sobre a origem dos macaenses como grupo poli-híbrido e isolado parcial, na sociedade de Ma-cau, bem demarcado da sociedade chinesa.
</p>
<p>
Seria interessante consultar, mais atentamen-te, os arquivos paroquiais disponíveis e quantificar percentualmente os casamentos dos <I>filhos da terra </I>com descendentes de famílias chinesas, entre si, e com elementos da Europa, da Índia e de outros pontos mais ou menos afastados de Macau. Tal não nos foi possível por dificuldades na obtenção de microfilmes dos referidos documentos, alguns mui-to delidos e em mau estado de conservação, e que, por isso, certamente, não nos foram facultados.
</p>
<img src=)
PASQUIM DE 2 DE DEZEMBRO
1. °
No tumulo de Dião Miranda
Exallou um forte ay
Por cazar seu sobrinho
Com neta do seu Atay
2. °
Não esta primeira
Que orgulho ficou calcado
Desse Almoxarife Inglez
Desse nariz bem curvado
3. °
No Grão Céa dessas Boda
Não encontrava cordoniz
Para senão encontrar no Pápo
A Chinita sem nariz
Contudo, a partir dos dados de que dispo-mos é-nos possível comprovar a vincada homogamia dos macaenses e também comprovar a autenticidade do dito, frequente entre aqueles, que em Macau tudo sã primo-prima75. Podemos tirar, ainda, outras conclusões, tais como:
— rara abertura à sociedade chinesa e, no caso de haver casamentos com indivíduos dessa nação, serem, sempre, estes com crioulas educadas no seio das famílias portuguesas76;
— as famílias mais ricas casavam, preferen-cialmente, os seus filhos entre si e as suas filhas com europeus, sendo, os eleitos, oficiais do Exército ou da Marinha, médicos e funcionários superiores;
— eram frequentes os casamentos de viúvos e, muitas vezes, com as cunhadas, no caso de se-rem homens. As viúvas ricas casavam-se, muitas vezes, com europeus sem fortuna nem altas paten-tes. Uma vez que o número de mulheres, em Ma-cau, foi, sempre, muito superior ao número de ho-mens, só se justifica que as viúvas casassem com tanta frequência no caso de possuírem grandes atractivos, de entre os quais, em Macau, um dos mais estimados foi, sempre, o dinheiro;
— a família macaense era, tradicionalmente, uma família extensa, com residência patrilocal. Po-rém, no caso do casamento com europeus, a residên-cia era, frequentemente, em casa da mulher, ou for-mava-se casa à parte. Este uso, de formar casa à parte, só passou, no entanto, a ser corrente depois da revolução vitoriana77;
— contrariamente ao que sucedia e continua a suceder, raros eram, em Macau, os casamentos após o nascimento do primeiro filho;
— as idades mais frequentes dos casamentos eram os 15/19 anos para as raparigas e depois dos 20 para os rapazes, verificando-se, quase sempre, uma considerável diferença, para mais, entre as idades do marido e da mulher, o que parece apontar, remota-mente, para uma antiga influência indiana:
— as crioulas recebiam, sempre, os apelidos das madrinhas ou dos padrinhos, distinguindo-se, as-sim, das escravas, a quem era atribuído, apenas, o nome próprio;
— entre os indivíduos de ascendência chine-sa, nota-se uma grande predominância dos nomes Inácio/Inácia e, ainda, Boaventura (atribuído aos dois sexos), ou António. O apelido Rosário é, tam-bém, muito frequente, o que parece apontar para an-tigos baptismos de cristãos novos, por influência dos padres missionários78;
— nota-se, ainda, o costume de dar aos re-cém-nascidos ou às crianças gentias baptizadas, por influência dos portugueses de Macau, os nomes dos santos correspondentes aos dias do nascimento ou do baptismo. Quando ambas as datas eram conheci-das, juntavam-se, até, os dois nomes79;
— outro costume curioso entre os portugue-ses de Macau era a atribuição do nome próprio do avô ao primeiro filho do primogénito de cada gera-ção;
— modernamente, adoptou-se outro costume, o de dar aos filhos nomes começados todos pela mesma letra, a primeira do prenome paterno.
Em resumo: os filhos da terra casavam entre si, principalmente no que respeitava às classes mais favorecidas, sendo frequente, neste caso, o casamen-to preferencial com parentes do quarto e, mesmo, do terceiro grau. A seguir, em preferência, as filhas da terra casavam com europeus ou com estrangeiros, o mesmo sucedendo aos nhons, se bem que mais rara mente. Casamentos com indianos ou com timorenses ou, mesmo, com cochinchinenses, quando o comér-cio de Macau se passou a fazer com aquele territó-rio, eram contraídos, principalmente, por mulheres de condição mais modesta, algumas mestiças direc-tas de chineses ou de pessoas de outras etnias, o mesmo se verificando entre os homens, quer portu-gueses, quer macaenses, que casavam com filipinas, cochinchinesas e chinesas, sendo estas, geralmente, criações de famílias ricas.
Em reforço desta constatação vêm os dados que o reverendo padre Manuel Teixeira apresenta relativamente a vários eclesiásticos macaenses e aos casamentos de macaenses com chinesas80. Estes da-dos parecem-nos comprovar duas coisas:
1) que as criações do ramo masculino e, tal-vez, algumas do feminino, eram, muitas vezes, enca-minhadas para a vida religiosa;
2) no caso de se casarem, tais criações e os seus descendentes escolhiam mais facilmente para mulheres raparigas chinesas ou filhas de chinesas do que os descendentes de portugueses do Reino ou das antigas famílias macaenses, à semelhança dos luso--descendentes de Goa.
Um outro facto a registar é que, se os precon-ceitos quanto a casamentos entre viúvos não existi-am nas classes mais favorecidas, parece que existi-am, porém, com filhas de pai incógnito, uma vez que, na nossa amostragem, que cobriu casamentos realizados em Macau durante cerca de dois séculos, apenas encontrámos um macaense, filho de gentios, com nome português, casado com uma filha de Ma-cau, de pai desconhecido.
Em meados do século XVIII, registaram-se casamentos de macaenses com netas de chinesas, mas em segunda geração, provavelmente já netas de cristãos ou filhas de crioulos de famílias abastadas, que, não raramente, recebiam bons dotes, como já se disse.
Uma outra constatação refere-se ao número médio de filhos por casal: dois a seis entre os maca-enses, sendo muito raros os gémeos81. As mulheres morriam, muitas vezes, na ocasião do nascimento de um filho ou na sua sequência, sendo também consi-derável o nascimento de nado-mortos e elevadas as taxas de mortalidade infantil. A avaliar-se pelo estu-do das vinte famílias de que foram feitas árvores genealógicas, famílias de elevado e médio estatuto sócio-económico, poderá deduzir-se que, tal número, nas famílias economicamente mais débeis, seria, provavelmente, mais elevado. Entre os casais chineses cristãos, crioulos ou seus descendentes, assiste--se a uma maior fertilidade, chegando cada casal a atingir a cifra de dezasseis filhos, sendo a média de sete a oito por casal, o que, aliás, entre a população chinesa, não é facto raro. Algumas famílias macaenses de elevado estatuto social também tiveram grande descendência, atingindo dez a doze filhos por casal. Verificou-se, porém, que muitos destes não atingiam a idade reprodutora. A reforçar a nossa hipótese vem o quadro seguinte, publicado no Boletim da Província de 1887, na página 121. Da análise deste quadro pode constatar-se que, ainda nos fins do século XIX, os macaenses se casavam, preferencialmente, entre si e com europeus, sendo raros os cruzamentos legais com pessoas de outras etnias. Para os anos de 1881 a 1885 houve, em Macau, um total de setenta e seis casamentos entre macaenses (51 por cento), cinquenta e nove de macaenses com europeus (39.1 por cento) e treze de macaenses com indivíduos de outras raças (8.7 por cento).
Do que, atrás, ficou exposto, fácil é concluir--se que os macaenses, principalmente aqueles que dispunham de melhores condições económicas, mantiveram tradições que perduraram ciosamente guardadas e orgulhosamente afastadas dos costumes dos aventureiros do Ocidente e, também, isoladas das dos gentios chinas, que tinham sido os criados e os artífices da cidade. Por outro lado, as famílias chinesas de alta linhagem nunca desejariam que os seus filhos se cruzassem com os "bárbaros do Ocidente" e só os cristãos e a gente muito humilde per-mitiriam tais cruzamentos ou, mesmo, a vida em co-mum, como criados. Daí, o isolamento dos filhos da terra, detentores de uma tradição de riqueza, de li-nhagem e de educação requintada, que nem os chi-neses das mais baixas condições sociais possuíam, nem os soldados e marinheiros rudes de Portugal, alguma vez, tinham possuído. Macaistas e outras ra-ças.
ESTATÍSTICA DOS NASCIMENTTOS E CASAMENTOS NA POPULAÇÃO CATHOLICA
</p>
<p>
DE MACAU,DURANTE 5 ANNOS(1881-1885)
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>ESTATÍSTICA DOS NASCIMENTTOS E CASAMENTOS
NA POPULAÇÃO CATHOLICA DE MACAU,DURANTE 5 ANNOS(1881-1885)
style='font-size:10.0pt'>Extrahida do registo catholico das egrejas da Sé,S.Lourenço,Santo António e S.Lázaro
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>A.NASCIMENTOS
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>
|
style='font-size:10.0pt'>Annos
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>Europeans
|
style='font-size:10.0pt'>Macaistas
|
style='font-size:10.0pt'>Indios
|
style='font-size:10.0pt'>Macaistas e Europeans
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>
|
style='font-size:10.0pt'>Macaistas e outras raças
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>Chinese
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1881
1882
1883
1884
1885
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5
4
3
6
3
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>62
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>47
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>53
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>38
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>42
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>3
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>24
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>23
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>22
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>24
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>29
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>12
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>6
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>4
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>8
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>61
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>71
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>47
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>66
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>81
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>B.
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>CASAMENTOS
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1881
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1882
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1883
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1884
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1885
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
-
1
-
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>21
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>18
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>7
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>19
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>14
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>19
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>11
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>11
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>6
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>3
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>2
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1
|
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>16
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>8
style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>13
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Nota:
style='font-size:10.0pt'>No mapa A
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>designam-se as raças
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>paternes,no mapa B
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>as dos nubentes(sic.)
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
Fonte:
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Boletim
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
da Província
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
de Macau
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
style="mso-spacerun: yes"> (1887,pág.121)
|
Só muito tarde, depois de iniciadas as carrei-ras de navios a vapor e, principalmente, nos fins do século XIX, as mulheres europeias começaram a de-mandar Macau, com maior frequência, acompanhan-do os maridos e os parentes quando estes iam ocupar altos cargos oficiais. Nesta altura, acentuou-se, tal-vez, o conceito de ngau pó, assistindo-se a maior clivagem das classes sociais de Macau: a ngau pó, mulher gorda, escura, feia, de grande nariz, ridicula-rizava as macaenses pálidas, pequeninas, magras e embiocadas, bem como seu falar da terra, que não logravam entender. As macaenses das classes sociais mais elevadas procuravam imitar as ngau pó e as suas modas trazidas da Europa para manterem as aparências do seu estatuto social; porém, as outras mulheres das classes mais desfavorecidas, iam-se isolando cada vez mais do grupo dos europeus.
As principais características sócio-ecológicas da população de Macau foram, sempre, largamente influenciadas pelos juízos de valor e pelo comporta-mento dos grupos nela dominantes ao longo dos sé-culos. Consequentemente, o sistema estratificado de classes, característico desta sociedade nos princípios do século XX é um importante aspecto da sua eco-logia.
Os conceitos, os juízos de valor que perdura-ram em Macau, através dos séculos, eram, principal-mente, os seguintes:
1) o poder de antigas linhagens baseado no parentesco (descendentes de um ascendente co-mum), regime, talvez prevalecente tanto nas antigas aldeias portuguesas como nas chinesas. Como é na-tural, em Macau, centro de cristianismo e refúgio de numerosos chineses, este regime de hierarquia de clã tenderia, necessariamente, a perder-se fora dos nú-cleos populacionais com antiga tradição, como na velha aldeia de Mong-Há. Contudo, entre os macaenses, o valor do título do ascendente e da li-nhagem logrou perdurar através dos séculos;
2) a outra direcção da estrutura hierarquizada da sociedade chinesa era de natureza confucionista, baseada no valor dos graus académicos, independen-temente da herança genética.
Contudo, os chineses de Macau pertencem a famílias ou clãs deixados no interior da China mais ou menos tardiamente. Destes, há a considerar, nos nossos dias, os que enriqueceram e ocupam lugares proeminentes na sociedade local, os que ocupam lu-gares nas forças da Polícia ou no funcionalismo pú-blico e a grande massa da população laboriosa, mais ou menos modesta, além da população marítima, grupo à parte tanto do ponto de vista cultural como biogenético. O conceito ancestral de clã, que presi-dia, quase sempre, à escolha do cônjuge, perdeu-se, naturalmente, com o Império dos Mandarins, man-tendo-se, no entanto, o poder do fundo capitalizado, que foi o que passou a impor, em Macau, tanto os portugueses como os chineses. Foi assim que o regi-me matrimonial passou a apoiar-se nestes dois pila-res tanto entre chineses como entre portugueses. Ac-tualmente, os casamentos dos filhos da terra com mulheres chinesas acentuaram-se, uma vez que se foi perdendo entre os chineses de Macau o vínculo às tradições antigas, que a vida urbana logra sempre diluir ou apagar, e à medida que foram rareando, no território, os descendentes das famílias mais antigas, que conservavam o orgulho da sua linhagem.
Nos nossos dias, chegou-se mesmo ao ponto de casarem com chineses as filhas da terra, com algum escândalo, apenas, das senhoras mais idosas.
3. DADOS ANTROPOBIOLÓGICOS
É nos biótipos restritos que se observa mais nítida correspondência entre uma dada área geográ-fica e as comunidades bióticas que a povoam. Quan-to mais restritivos forem os factores do meio, mais premente é a selecção e mais uniforme, característi-ca e pobre em espécies é a biocenose. É assim que, em Macau, factores tão restritivos como sejam a ca-rência de água, o isolamento do território — quase ilha — e as altas temperaturas de Verão, alternantes com as baixas temperaturas da estação fria, condicionam a riqueza tanto da zoocenose como da fitocenose autóctones e, também, a aclimatação de muitas espécies do Ocidente, várias vezes mais ou menos empiricamente tentada, obrigando os homens da Europa, que povoaram, pela primeira vez, o terri-tório, a servir-se do que, no meio e nas terras vizi-nhas, encontraram para sobreviverem.
O equilíbrio em relação ao mundo vivo, in-cluindo a população humana. estabeleceu-se, em Macau, como atrás ficou demonstrado. A princípio, havia grande mortalidade entre os europeus mas, em breve, os seus filhos, euro-asiáticos, naturalmente seleccionados na infância, encontraram melhores condições adaptativas do ponto de vista morfofisiológico. Por outro lado, criaram-se, parale-lamente, ao longo dos séculos, formas culturais de sobrevivência, muitas delas originais. Tanto as for-mas biológicas como as culturais foram seleccionadas pelo meio e nasceu o macaense e a sua original cultura, de que ainda se encontram ves-tígios em Macau.
O grupo fechou-se. Este fenómeno não tem, necessariamente, bases biológicas, muito embora al-gumas se possam apontar, tais como genomas no-vos, híbridos, com nova fenotipia, paralela à criação de novos padrões psicológicos e de novos juízos de valor. São exemplos a perspicácia, a parcimónia e o gosto pela ostentação, próprios do mundo oriental, e, ainda, um conceito novo de beleza que, em respeito à mulher, poderia ser uma das causas de escolha do cônjuge e, assim, um padrão selectivo, a longo pra-zo, de um tipo morfoantropológico local.
Quanto a este ponto, enquanto em Portugal, no século passado, a mulher gorda, de cintura fina, pele clara, pálida, com tornozelos finos e leve buço, era um protótipo de beleza, em Macau, esse tipo feminino era ridicularizado. A fei pó (mulher gorda ou com tendência para engordar) é, ainda, um termo que as velhas senhoras locais empregam para se re-ferirem à ngau pó ou portuguesa de Portugal. O tamanho do nariz, a gordura e os pés grandes eram os principais motivos de rejeição e troça.
Uma explicação para o isolamento parcial que caracterizou o grupo dos macaenses, principalmente ao longo dos séculos XVIII e XIX, quando a consci-ência de grupo se acentuou paralelamente à estratificação social e à ida de mulheres do Reino para Macau, deve buscar-se na homogamia que se verificava, pelo menos entre as famílias mais antigas e mais preponderantes, na sociedade de então82.
A análise das constelações familiares, por nós estudadas, permitem-nos tirar conclusões mais do que evidentes acerca deste fenómeno.
Por um lado, os chineses fecharam o seu gru-po; por outro, os macaenses abriram-no, apenas, para casamentos com europeus, principalmente mili-tares de patente ou altos funcionários83.
Relativamente à homogamia, há a considerar dois tipos fundamentais: homogamia positiva, de que resultam semelhanças fenotípicas na descendên-cia, e homogamia negativa, correspondente à forma-ção sistemática de casais dissemelhantes.
O primeiro caso corresponde aos casamentos entre macaenses, por isso mesmo, quase todos apa-rentados, correspondendo, o segundo, à preferência dada, pelos macaenses, às mulheres loiras e de olhos claros, no caso do casamento com europeias ou euro-asiáticas, estranhas ao grupo.
Aliás, em qualquer população humana há, sempre, uma leve tendência para a homogamia, prin-cipalmente no que respeita a caracteres quantitati-vos, tendência a que o grupo dos macaenses não podia escapar. É o caso, por exemplo, da estatura. Raramente um homem baixo casa com uma mulher mais alta. Outro factor é de carácter psico-social, particularmente sensível entre os mestiços. As consequências genéticas, do ponto de vista qualitati-vo, resultantes da endogamia preferencial, são as mesmas do que as dos cruzamentos consanguíneos. Em Macau, as pequenas dimensões do território e o reduzido número de famílias das classes socialmente mais elevadas favoreceu, particularmente, esta consanguinidade, fruto do cruzamento preferencial, resultante dos isolados parciais (sem barreiras geo-gráficas, apenas psico-sociais) que se criaram no ter-ritório.
Como se sabe, tanto a homogamia como a endogamia tendem a reduzir a frequência dos genótipos heterozigóticos, o que, entre populações poli-híbridas, pouca expressão fenotípica apresenta, a menos que possa conduzir à estabilização de certos caracteres. Este fenómeno exigiria, porém, muitas gerações sucessivas dentro de um grupo fechado.
Uma população mendeliana, na qual os cruza-mentos se façam, preferencialmente, entre indivídu-os semelhantes para este ou para aquele carácter, tende para um estado estacionário, com frequências genotípicas diferentes dos valores panmíticos. Estas frequências não foram nunca calculadas, ao que sabemos, relativamente ao grupo dos macaenses. Mesmo um estudo sério do ponto de vista antropobio-lógico, sero-antropológico, somatométrico e, mesmo, osteométrico dos macaenses, está por fazer. Alguns viajantes, de passagem, fizeram, porém, breves registos de carácter antropobiológico relativamente à população de Macau. Serve de exemplo o apontamento seguinte:
«Com excepção de algumas famílias cujo sangue lusitano não está misturado a população é de mulatos, indianos da Goa e negros [...]» (Laplace, ob. cit., pág. 234).
Alguns autores recentes84 debruçaram-se sobre o estudo da serologia dos habitantes de Macau, mas a verdade é que, até hoje, ninguém fez esse estudo usando amostragens selectivas ou marcadores significativos, outrossim incluindo macaenses e chineses com nomes portugueses na mesma amostra. Aliás, é convicção nossa que deve ser, já, muito difícil fazer tal amostragem, uma vez que o macaense típico, que se isolou por homogamia, provavelmente a partir do século XVIII, altura em que os nomes das famílias radicadas começaram a aparecer com certa constância, é, já, bastante raro no território para se poder obter números com certa validade.
De facto, verificaram-se casamentos de gerações sucessivas de filhos da terra com europeus e alguns com chineses a partir de meados do século XIX. Por outro lado, os surtos migratórios dos meados do século XIX e, depois, na sequência da primeira Grande Guerra, seguidos de um terceiro, pouco antes da Guerra do Pacífico, acentuaram a heterosis.
O círculo de casamento (número médio de pessoas com quem um indivíduo se pode casar) é, aliás, em Macau, bastante limitado entre a população portuguesa, embora houvesse uma desproporção do número de homens, menos numerosos, como já se disse, em relação ao número de mulheres85.
A mestiçagem é um fenómeno histórico, mas o regresso ao tipo parental constitui, sempre, uma excepção. Se a percentagem de crossing-over for de um por cento, serão precisas cem gerações para completa integração genética, embora seis gerações sejam bastantes, segundo Beroist, para integração num fundo genético comum. E estas seis gerações podemos encontrá-las representadas na árvore genealógica do mapa da página seguinte.
A homogamia fenotípica, isto é, a escolha preferencial do cônjuge é, particularmente, marcada nos macaenses.
Se a escolha, nos séculos passados, se apoiava na semelhança fenotípica, elegendo o europeu ou casando dentro do grupo, não se pode negar que, de parte dos europeus residentes, essa escolha não fosse, muitas vezes, apoiada no interesse económico.
Os macaenses, descendentes de famílias antigas com vincada homogamia86, apresentam caracteres antropossomáticos e serológicos que estão de acordo com as correlações estabelecidas por Hulse87, para os descendentes de casamentos endógamos e consanguíneos. Muitos deles têm, até, lindos olhos azuis, embora os cabelos loiros sejam excepção.
Embora numa pequena amostragem, além da tendência para a braquicefalização, encontramos as seguintes correlações, nos filhos da terra:
Segundo Hulse
|
style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Segundo Hulse
|
Para os Macaenses (amostra
seleccionada-56 indivíduous)
|
style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Correlações
style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Próprias da
consanguinidade
|
Estatura
|
Negativa
|
Negativa
|
altura da cabeça
|
negativa a moderada
|
negativa a moderada
|
largura da cabeça
|
Positiva
|
Positiva
|
tensão arterial
|
fraca com a tensão sistólica e mais
importante com/a diastólica
|
variável
|
glicémia
|
Negativa
|
Negativa
|
taxas de colesterol
|
Negativa
|
Negativa
|
nascimentos de gémeos dizigóticos
|
positiva
|
São muito raros os gémeos em Macau
|
É de notar, presentemente, e também nos séculos XVIII e XIX, de acordo com a amostragem que nos serviu para elaborar as constelações familiares, a seguir representadas, uma baixa frequência de gémeos nas famílias macaenses; daí a dificuldade em confirmar ou negar a correspondência da última das correlações de Hulse.
Relativamente à serologia dos macaenses, seria de esperar encontrarem-se altas frequências do grupo O, em caso de consanguinidade, uma vez que o aparecimento fenotípico de caracteres recessivos é a sua fundamental característica.
Segundo Scheider88 a predominância dos grupos sanguíneos em populações endogâmicas seria A e O, o que, alias, serviria de marcador genético, se bem que não muito significativo.
Sabido que predominam, entre os chineses, os grupos BN e ON, seria de esperar que fossem estes, e ABN os grupos de maior frequência entre os macaenses, no caso de haver, há muito, larga mestiçagem entre os portugueses e os filhos do Celeste Império, como alguns autores pretendem.
Dos estudos dos Prof. doutores António de Almeida e Almerindo Lessa, não podemos tirar conclusões definitivas para apoiar a nossa hipótese, devido à não selectividade da amostragem, como, já atrás, se disse; no entanto, passaremos a analisá--los, por serem os únicos de que dispomos:
l — Dados recolhidos pelo Prof. doutor António de Almeida89
O macaense é descrito como um chinês meridional e, assim, as suas características são as seguintes: estatura acima da média, corpulência fraca, cabelo liso, mesocefalia, mesorinia, média espessura dos lábios, obliquidade das fendas palpebrais, com alguns exemplares de prega mongólica, esboçados, apenas, noutros.
Quanto ao factor Rh negativo surge-nos, no grupo, com taxas insignificantes:
Rh+ 99,0% ±1,07%
Rh- 1,0% ±1,07%
o que, aliás, é próprio dos chineses do Sul e está de acordo com estudos de outros autores. Quanto aos grupos sanguíneos ABO, o mesmo autor apresenta-nos os seguintes dados, para os chineses do Sul90:
Chineses do Sul
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>Chineses
do Su
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>l
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>N
style='font-size:msorm'>o
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoIns>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>d
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>e
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>c
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>a
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>s
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>o
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>s
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>O
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>A
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>B
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>A
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>B
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>n
style='font-size:msorm'>o
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>n
style='font-size:msorm'>o
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>n
style='font-size:msorm'>o
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>n
style='font-size:msorm'>o
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>5
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>9
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>2
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>3
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>38,9
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>8
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>3
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>32,2
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>0
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>7
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>28,8
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>-
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:msorm'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>-
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
style='font-size:msorm'>
|
style='font-size:10.0pt'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>
Estes dados parecem em contradição com os que Alice Brues apresenta para os chineses (dominância dos grupos B e C). Como interpretá--los? Seriam macaenses ou chineses muito hibridados os indivíduos escolhidos para amostragem?
2 - Dados recolhidos pelo Prof. doutor Almerindo Lessa91
O quadro bio-antropológico da população de Macau foi traçado por este autor, a partir duma amostragem de l 314 indivíduos, distribuídos como se segue:
CHINESES PUROS l,038
MACAENSES MESTIÇOS (PORTUGUESES/CHINESES) 20092
PORTUGUESES DA EUROPA l15
PRETOS DE MOÇAMBIQUE (LANDINS) 16l
Partindo, a priori, de uma mestiçagem simples, portugueses/chineses, embora não saibamos como foi escolhida esta amostra, as conclusões tiradas nunca poderiam coincidir com as que uma análise diferencial lograria testar quanto à demarcação da população chinesa.
Quanto ao grupo ABO, são os seguintes, os valores encontrados:
GRUPOS
style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:outset #906700 .75pt;
mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>GRUPOS
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>No
lang=EN-US>
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>de anos
|
O
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>A
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>B
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>AB
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no
|
%
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%
|
class=SpellE>Chineses
class=SpellE>Mestiços
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>
Portugueses
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>93
|
lang=EN-US>
39
lang=EN-US>
|
40,17
42,6
|
lang=EN-US>
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>27
lang=EN-US>
|
25
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>42,6
|
lang=EN-US>
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>27
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>28
lang=EN-US>
lang=EN-US>
|
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lang=EN-US>
Quanto ao factor MN, os valores são os seguintes, para o caracter híbrido MN:
CHINESES 69%
MESTIÇOS 70%
PORTUGUESES 59%
A análise do sistema Gm já apresenta frequências mais significativas, fazendo lembrar, para os mestiços, outra hibridação para além do simples cruzamento portugeses x chineses. O Prof. doutor Almerindo Lessa admite, como hipótese, esta influência ser negróide. Perguntamos: por que não timorense ou indo-malaia?
Finalmente, sujeitos os resultados aos testes do X2, chegou-se à conclusão de que:
Teste do X2
|
Comparação chineses/mestiços
|
lang=EN-US>Sist.ABO
Sist.Rh
Sist.MN
Sist.P
Sist.Gm
|
lang=EN-US>Não significativo
lang=EN-US>Significativo a 1 %
Não significativo
Significativo a 1 %
lang=EN-US>Significativo a 1 %
|
Teste do X2
|
Comparação portugueses/mestiços
|
lang=EN-US>Sist.ABO
Sist.Rh
Sist.MN
Sist.P
Sist.Gm
|
lang=EN-US>Significativo a 1 %
Significativo a 1 %
Não significativo
Significativo a 1 %
Significativo a 1 %
|
Estabelecendo comparações com dados de estudos de outros autores, para o Sudeste Asiático, o Prof. doutor Almerindo Lessa chegou à conclusão de que os macaenses se afastam serologicamente dos chineses do Norte, mas se aproximam, de certo modo, de certos grupos vietnamitas, tailandeses e malaios. Por outro lado, considera que a influência indo-malaia se faz sentir nos chineses do Sul e em particular, na população de Macau.
Supomos que esta semelhança genética dos chineses do Sul com outros grupos da Ásia Meridional seja muito antiga e vinculadamente marcada em lugares onde se registou um certo isolamento geográfico ou sociocultural.
A ser assim, não admira que o fundo genético dos filhos da terra, mesmo quando se miscigenavam com os chineses locais, continuasse, preponderantemente, indo-malaio, dando, ao grupo, uma grande estabilidade.
Depois de 1966, na sequência dos distúrbios causados pelos Guardas Vermelhos chineses, algumas das últimas famílias antigas, que ainda residiam no território, abandonaram Macau.
Em 1977, novo surto migratório de filhos da terra começou a fazer-se sentir para a Austrália, Estados Unidos, Canadá e Brasil, devido ao bloqueamento de cargos na função pública, e, também, talvez, devido a uma certa apreensão quanto ao futuro de Macau.
Os cruzamentos mais ou menos recentes de filhos da terra com chinesas e a mudança de mentalidade das gerações mais jovens, em relação a tais cruzamentos legalizados pelo matrimónio, levaram, em muitos casos, a uma maior miscigenação que, hoje, viciaria, talvez, uma amostragem seleccionada, por maior cuidado que se tivesse na seleção.
Basta, nos nosso dias, olhar para um Pacheco, um Basto, um Senna, um Garcia, um Nolasco, um Melo, um Estorninho, por exemplo, para se pensar numa ascendência euro-asiática mas não chinesa, pelo menos próxima. Os seus caracteres antropobio-lógicos são muito diferentes: ausência de acentuada dolicocefalia, índices toráxicos médios, estatura mediana a elevada, cor de pele dourada, por vezes acobreada, narizes salientes, olhos muitas vezes sem prega mongólica e, não raras vezes, azuis ou pretos. Surgem-nos, nestes traços, características do brâmane, do malaio, do timorense e do europeu, características que, noutras famílias, se aliam a caracteres chineses, tal como a saliência dos malares, e a forma dos olhos em amêndoa, geralmente sem prega mongólica. As fotografias da página seguinte representam alguns filhos de Macau e ilustram sobejamente o que atrás ficou exposto.
Os cruzamentos mais ou menos recentes de filhos da terra com chinesas e a mudança de mentalidade das gerações mais jovens, em relação a tais cruzamentos legalizados pelo matrimónio, levaram, em muitos casos, a uma maior miscigenação que, hoje, viciaria, talvez, uma amostragem seleccionada, por maior cuidado que se tivesse na seleção.
Observando os luso-descendentes do Portuguese Settlement de Malaca ressalta, curiosamente, um conjunto de caracteres antropossomá-ticos semelhantes aos dos macaenses. A diferença mais notável, à primeira vista, é o tom da pele, bastante mais escura, devido, certamente, à não renovação frequente do sangue europeu e à rara miscigenação com chineses, contrariamente ao que sucedeu em Macau. O que observámos em Malaca apoia, inteiramente, o que escreveu Francisco de Carvalho e Rêgo, em 195093: «Quem, como nós, tenha viajado por muitas terras do Oriente, facilmente conclui que o macaense não é, na generalidade, de descendência chinesa. Na Índia, no Japão, no Sião, na Cochinchina, em Malaca, em Timor, nas Filipinas e até em Honolulu encontrámos tipos muito semelhantes aos de muitos macaenses que conhecemos. »

D. Ana Teresa Vieira Ribeiro de Senna Fernandes a "avó rica".

Uma neta da 1a condessa de Senna Fernandes, hoje octogenária.

Comendador Albino Pereira da Silveira.

Demétrio de Araújo e Silva, sogro de Albino Pereira da Silveira.
De facto, deve ter havido uma mistura genéti-ca muito rica em todos os pontos do Oriente por onde os portugueses passaram. Levaram consigo o fundo genético português-ibérico, já por si fortemen-te hibridado, e com os seus filhos luso-asiáticos le-varam genes dos pontos mais díspares do continente asiático. Daí o seu espantoso polimorfismo e a sua extraordinária capacidade adaptativa.
4. DADOS ETNOGRÁFICOS

Uma geração famosa de macaenses. Grupo de passeio "às ilhas", finais do século XIX. Da esquerda para a direita: la fila, sentados:
Joaquim Gil Pereira, José Maria Lopes, Francisco Filipe Leitão, Carlos Augusto da Rocha d'Assumpção. 2a fila, sentados: Carlos Cabral. José Vicente Jorge, Francisco Xavier da Silva. Conde de Senna Fernandes.
Fila de trás, de pé: Dr. Lourenço Pereira Marques, Emílio Jorge, Constâncio José da Silva, Aureliano Guterrez Jorge, Delfim Ribeiro, Francisco Pereira Marques, José Ribeiro, Dr. Evaristo Expectação d'Almeida (médico, nat. de Goa), António Joaquim Basto Jr. e Luís Lopes dos Remédios.
(Fotografia do espólio de João Feliciano Marques Pereira).
O grupo dos macaenses detém alguns pa-drões culturais bem demarcados do dos chineses e, também, do dos metropolitanos, fruto de aculturação de múltiplas etnias que convergiram naquele pequeno território, predominantemente por via feminina, ao longo dos primeiros séculos da sua História. Para se conservarem, estes padrões teriam de ter, originalmente, vínculos muito fortes, apon-tando para uma tradição materna, e, também, repre-sentarem respostas adaptativas conseguidas. Se as mães dos primeiros macaenses fossem chinesas e a miscigenação com mulheres desta etnia tivesse pre-valecido ao longo dos séculos, nunca os padrões indo-malaios, que caracterizam o grupo, teriam lo-grado chegar aos nossos dias. E a verdade é que ainda encontrámos alguns destes padrões bem vi-vos entre as anciãs filhas da terra que conhecemos, em Macau, nos anos 60/70. Dentre estes padrões, são de citar o papiá, falar da terra (ou mac'ista antigo), os hipocorísticos (nominhos ou nomes de casa), a culinária, o trajo, os jogos e passatempos e as mezinhas, além de um mal dissimulado desprezo pelos chineses e, mais ainda, pelos cafres, antigos servidores das famílias abastadas.
O DIALECTO DE MACAU
As antigas senhoras das famílias macaenses mais principais e as suas crioulas, exprimiam-se mal em chinês, fazendo, disso, um certo luxo, e empre-gando, entre si, quando falavam, o característico patuá de outros tempos, que a escolarização femini-na do século passado veio adulterar.
Esta maneira de falar em que se misturam termos antigos que, no português moderno, já se perderam, e palavras de diferentes grupos, principal-mente asiáticos, parece ter nascido quando o portu-guês se tornou língua franca94 no Oriente. De facto, ainda hoje, vestígios de um antigo patuá semelhante ao de Macau e, de certo modo, ao crioulo cabo—verdiano, tem sido estudado por vários autores, em diferentes pontos da Ásia. É o caso de Malaca, Ceilão, Indonésia (Flores)95 e, ainda, em Nagasáqui, onde certas palavras portuguesas perduraram. A títu-lo de curiosidade, é de citar uma especialidade tradi-cional, um bolo tipo pão-de-ló, chamado ali castila e muito semelhante ao que, também, se faz em Ma-cau96, sob o nome de bolo castelhano.
Devido à reclusão tradicional das mulheres, uso de influência oriental que caracterizou, também, o período medieval na Europa, só muito tarde o ele-mento feminino começou a gozar de certa liberda-de e a ir à escola, privilégio só dos rapazes desde os inícios do estabelecimento da cidade, quando os padres jesuítas fundaram o seu célebre Colégio de S. Paulo do Monte.
Devido a este facto, se os homens macaenses perderam, mais cedo, o domínio do antigo patuá, as mulheres mantiveram-no, praticamente, até aos nos-sos dias, principalmente entre as classes menos favorecidas e nos grupos que se mantiveram mais isolados em Xangai e em Hong Kong.
Analisando os trabalhos sobre a língua de Macau de João Feliciano Marques Pereira97, Danilo Barreiros98, José dos Santos Ferreira99 e, principal-mente, da filóloga Graciete Batalha100, podemos constatar que existem, realmente, vestígios muito ri-cos de convergência cultural.
Segundo Graciete Batalha, a língua que os portugueses deixaram pelos vários pontos da Ásia já ultrapassara a língua franca quando estes se estabe-leceram em Macau, acompanhados por indígenas de várias origens. Usavam, como meio de comunica-ção, uma linguagem de certo modo amadurecida, ampliada por contingentes vocabulares e tendo atin-gido já um certo estado de fixação fonética, morfológica e sintática que aqui veio a manter se por trezentos anos, até começar, no século passado, a desarticular-se101.
Principalmente em meados do século passa-do, com a fundação da colónia de Hong Kong, deve ter começado a fazer-se sentir mais a influência da língua inglesa, não só no falar dos portugueses de Macau, mas também no da própria população chine-sa. Curiosamente, e devido, decerto, ao isolamento do grupo, conservaram-se, na língua de Macau, ar-caísmos portugueses que, principalmente algumas senhoras idosas, ainda hoje empregam com certa frequência. Tais são o caso das palavras botica, azinha, dó, ade, bredos, sombreiro, pateca, persulana e talú, além de outros menos frequentes.
Quanto a étimos indianos, malaios e de outras origens, são de citar, por exemplo, bazar e achar (do persa), garbo e chamiça (do hebreu), adufa, chale, afião, tufão (do árabe), jagra, baniane, areca, filaça, calaím, gargú, cacada, (do indiano ou indo-português), bétele, condê, chiripo (do tamul), bába (do turco), cate (do malaio-javanês), caia nuno, missó, caqui, nachi (do japonês), agrong, jangom, balichão, saraça, savan e muitos outros do malaio, sendo al-guns comuns ao tetum, e, ainda, bebinca, sarangun e cincomaz, talvez do tagalo102.
De quatrocentas e vinte e seis palavras de ori-gem não portuguesa estudadas no seu Glossário do Dialecto Macaense, Graciete Batalha registou setenta e cinco de origem chinesa (17,6 por cento)103, oitenta e seis de origem indo-portuguesa e malaio-portuguesa (20 por cento), trinta e duas de origem inglesa (7,5 por cento), oitenta e duas de diversos idiomas (19,2 por cento) e cento e cinquenta e uma de origem malaia, o que corresponde a 35,4 por cento, e parece advogar uma influência predominante do idioma malaio no falar dos antigos macaenses. É nossa opinião que o motivo que levou à conservação ou, talvez, ao enriquecimento, em termos malaios, do falar de Macau, nisso, provavelmente diferente da antiga língua franca, teria sido a predominância das escravas timorenses e malaias que, nos últimos séculos, serviam as famílias macaenses, uma vez que era proibida a escravatura de chineses.
É de notar um ponto interessante: a não sobrevivência de termos dos dialectos africanos, embora tenha havido, em Macau, escravos negros e cafres em grande número104. Supomos que os escravos africanos, falando, naturalmente, ídiomas diferentes e sendo originários de pontos de civilização rudimentar, entender-se-iam, entre si e com os seus amos, em português, não encontrando possibilidades de cederem palavras das suas línguas ao falar local por serem relegados para trabalhos mais grosseiros, não ocupando, nunca, lugares de relevo dentro das famílias portuguesas.
HIPOCORÍSTICOS
O uso de hipocorísticos, nominhos ou nomes de casa, é muito frequente em Macau. Sabe-se que, no século passado, os hipocorísticos eram os nomes correntes da maioria dos filhos da terra, a par de alcunhas que, ao que parece, eram, apenas, atribuídas aos homens e passavam, por vezes, de pais para filhos, durante algumas gerações105. No seu diário, Macau dia a dia, Francisco António Pereira da Silveira, membro de uma antiga família ilustre macaense, quando se refere aos seus familiares e a outras pessoas suas amigas, trata-as, sempre, pelos seus nomes de casa106. Este uso parece ter a sua origem nas amas negras, tal como sucedeu em Cabo Verde e no Brasil, segundo Gilberto Freire107, e, no caso de Macau, porventura, também nas amas de outras etnias. Estes diminutivos afectuosos correspondem aliás, ao tratamento corrente entre os chineses de Macau. Segundo o professor Jin Guó Ping, o tratamento iniciado pela expletiva Á, como Á Má, Á Mui, Á Fong, etc., corresponde ao diminutivo: a mãezinha, a irmãzinha mais nova, o "Fonguesinho", sendo Fong, neste caso, o prenome108.
Este uso, bem documentado para o século XIX, é mais antigo em Macau e dele nos dá notícia, por exemplo, Bocage, no seu soneto A Beba (diminutivo de Genoveva), no século XVIII. Nas formas respeitosas de tratamento, as senhoras de condição eram, noutros tempos109, em Macau, siaras, e os respectivos maridos, sium, sendo, as pessoas de estatuto social menos elevado, tratadas por nhin ou nhonha e nhon, no caso de se tratar de um elemento do sexo feminino ou masculino, respectivamente. As primeiras formas perderam-se. O termo nhon consta de vários documentos do século XVIII, e também Bocage o referiu110; o termo nhonha logrou perdurar até aos princípios do século XX, na linguagem corrente. É curioso notar que a palavra nona corresponde, em javanês, à filha solteira do europeu; no papiá de Malaca, à irmã mais velha, dentro do agregado familiar; e, em Timor, à manceba indígena do europeu. Ao que parece, este termo foi difundido pelos portugueses, tendo sido registado na Zambézia o nome nhanha para as mulheres nativas, casadas com brancos111. Alguns autores vêem, nestas designações, um longínquo étimo português: senhora.
Dos papéis do espólio de João Feliciano Marques Pereira, conservados na Biblioteca da Sociedade de Geografia, e ainda por catalogar, consta uma lista de hipocoristicos usados em Macau no século passado. Juntando a estes aqueles que recolhemos em Macau e/ou são, ali, frequentes nos nossos dias, catalogámos os seguintes:
Agostinho................................................ Chinho
Ana................................................. Anita, Nita
Angelina.................................................. Achai
Antónia....................................... Tona, Tonica, Ica
António......................................... Tone, Tonico,
Toninho, Ico, Toneco
Alberto.................................................... Beto
Cláudio..................................................... Ado
Cláudia..................................................... Ada
Eduardo............................................... Ata, Dado
Eduarda............................................... Ata, Dada
Bartolomeu............................................... Munco
Deolinda.................................................. Linda
Esmeralda................................................. Dada
Ermelinda................................................. Linda
Bárbara........................................... Bita, Barbita
Belarmina.................................................. Nina
Boaventura................................................. Tula
Angélica.................................................... Eca
Edite...................................................... Didi
Emília.................................................... Milly
Ernestina................................................. Tina
Fernando........................................... Nano, Nando
Francisco.......................................... Chico, Quico
Francisca................................................. Chica
Emerenciana.............................................. Chana
João..................................................... Janjan
Josefina................................................... Fina
Filomeno........................................... Meno, Menico
Filomena.......................................... Mena, Menica
Filipe..................................................... Ipi
Evaristo................................................... Ito
Mariana............................................ Nana, Nanina
Natália.................................................... Tátá
Pascoela................................................ Pancha
Vicente......................................... Chente, Chencho
Vicência................................................ Chencha
Teodora.................................................... Dora
Natércia............................................ Nati, Netty
Cláudio..................................................... Ado
Pascoela................................................ Pancha
Adelaide.................................................. Laida
Angélica......................................... Angica, Lica
Ângela.................................................. Alica
Beatriz................................................. Betty
Catarina.......................................... Cate, Catty
Conceição...................................... Conchita, São
Genoveva................................................... Beba
Isabel.............................................. Danda, Isa,
Bela, Zabel
Inácia.......................................... Bibi, Parocha,
Achinha, Anchinha
Inácio.................................................... Acho
Jorge...................................................... Jimi
Humberto.................................................. Beto
José..................................... Jesico, Jejico, Zinho
Letícia............................................ Tícia, Letty
Herculano................................................ Josico
Luís................................................ Ichi, Lulu
Josefa..................................................... Epa
Lourenço................................................ Chencho
Lourença................................................ Chencha
Joaquim.................................................... Quim
Leonel..................................................... Neco
Florêncio............................................... Chencho
Florência............................................... Chencha
Henrique......................................... Riqui, Quiqui
Faustina................................................... Tina
Faustino.................................................. Tino
Ludovico................................................... Lulu
Matilde.................................................... Tide
Malvina.................................................... Nita
Manuel..................................... Manico, Mané, Néné
Gabriela.................................................. Gaby
Maria...................................... Ia, Mimi, Mari, Mary
Olinda................................................... Linda
Olívia.................................................... Olly
Clara...................................................... Caca
Carlos.................................................... Litos
António.................................................... Toco
Evaristo.................................................... Ito
Robertina.................................................. Tina
Frederico.................................................. Dubi
Comparando os hipocorísticos actuais com os antigos e com os que são frequentes em Goa e em Cabo Verde, verifica-se que a terminação em Goa é em u — Forçu (Francisco), Salu (Salvador)112 — enquanto que em Cabo Verde se aproximam muito mais dos que são usados em Macau, embora, alguns, não tenham absoluta correspondência. É o caso de, por exemplo, Genoveva, Beba, Beto (Alberto e Roberto), Bina (Etelvina), Chencho (Inocêncio), Tino (Faustino), Fina (Josefina), Ia (Maria), Nico (Manuel), Dado (Eduardo), etc..113
Não é nossa intenção fazer, aqui, um estudo comparativo dos hipocorísticos nos vários crioulos portugueses. Apenas se pretende demonstrar que os nominhos de Macau não devem ter sido criados pelas amás chinesas, como alguns autores supõem, apoiados na sua forma dissilábica; outrossim, devem ter uma origem mais antiga.
A rematar este assunto, transcrevemos uma série de quadras cujo primeiro verso corresponde a uma composicão cantada, que consta dos papéis de João Feliciano Marques Pereira como sendo de Macau. Este conjunto de quadras foi-lhe enviado a 20 de Outubro
DISPARATES
Remetida por Emílio Honorato de Aquino, de Hong Kong, em carta de 20/10/900.
Passarinho verdi (verde)
riba de (pousado sobre) telhado
capí, capí, (batendo as) aza
chomá (chama) por nhum Ado (Eduardo)
Passarinho verdi
riba de porta capí,
capí, aza
choma nhi Carlota
Passarinho verdi
riba de janela
capí, capí, aza
choma nhi Miquela
Passarinho verdi
riba de escada
capí, capí, aza
choma nhi Ada (Esmeralda)
Passarinho verdi
riba de tanaz (tenaz)
capí, capí, aza
choma nhum Braz
Passarinho verdi
riba de cosinha
capí, capí,
aza choma nhi Anninha
Passarinho verdi
riba de tacho (frigideira)
capí, capí, aza
choma nhum Acho (Ignácio)
Passarinho verdi
riba de painel (quadro)
capí, capí,
aza choma nhi Zabel
Passarinho verdi
riba de fugam
capí, capí, aza
choma nhum Jamjam (João).
Passarinho verdi
riba de sino
capí, capí, aza
choma nhum Tino (Faustino).
Passarinho verdi
riba de almario
capí, capí, aza
choma nhum Januario.
Passarinho verdi
riba de batente
capí, capí, aza
choma nhum Chente (Vicente).
Passarinho verdi
riba de maca capí,
capí, aza
choma nhi Caca (Clara)
Passarinho verdi
riba de coco
capí capí aza
choma nhum Toco (António)
Passarinho verdi
riba de buaiam-bico (bule)
capí capí aza
choma nhum Jejico (José)
Passarinho verdi
riba de bassora (vassoura)
capí capí aza
choma nhi Dora (Theadora)
Passarinho verdi
riba de bassora-pena (espanador)
capí capí aza
choma nhi Mena (Philomena)
Passarinho verdi
riba de palito
capí capí aza
choma nhum Ito (Evaristo)
Passarinho verdi
riba de fula (fior)
capí, capí, aza
choma nhum Tula (Boaventura)
Passarinho verdi
riba de caneca (caneco)
capí, capí, aza
choma nhi Eca (Angélica)
Passarinho verdi
riba de lenço
capí, capí, aza
choma nhum Encho (Lourenço)
Passarinho verdi
riba de bacia capí,
capí, aza
choma nhi Ia (Maria)
Passarinho verdi
riba de hospital
capí, capí, aza
choma nhum Vital
Passarinho verdi
riba de campinha (campainha)
capí, capí, aza
choma chacha-dinha (avó madrinha)
Passarinho verdi
riba de chaminé
capí, capí, aza
choma chacha-néné (parteira)
Passarinho verdi
riba de gradi (cerca)
capí, capí, aza
choma sium padri (sacerdote)
de 1900 por Emílio Honorato de Aquino, português de Macau radicado em Hong Kong, onde o crioulo viveu e se manteve mais puro, durante mais tempo.
O passarinho verde ou pastorinho verde (dos actuais cristãos de Malaca) parece ser uma deturpação de papagaio verde, forma que aparece na seguinte quadra de Damão:
papagaio verde
sentá sobre lêtêr
batê, batê azas, surumbá
Chamá rapaz solter [... ]
(Mons. Sebastião R. Delgado — <Ta-Ssy-Yang-Kuo, Lisboa, 1903, p. 26).
A CULINÁRIA
Um dos aspectos mais característicos da cultura macaense é, sem dúvida, a culinária. A tradição local prima por receber bem e, vestígio da tradição antiga portuguesa e dos padrões orientais de lauta mesa, um chá gordo é o produto híbrido receituário muito rico114.
Na preparação de um chá gordo, merenda ajantarada, correspondente, de certo modo, ao nosso copo d'água, esmeravam-se as senhoras macaenses, pois era ocasião de mostrarem os seus dotes artísticos e, também, de boas cozinheiras e doceiras, prendas que não podiam faltar a uma menina casadoira e, depois, a uma boa dona de casa. No chá gordo podiam apresentar-se vinte ou trinta especialidades culinárias (doces e salgados) dantes primorosamente enfeitadas com papéis de seda, recortados, alguns muito decorativos, conforme a maior ou menor criatividade de quem os executava.
Muitas receitas das especialidades da culinária macaense variam de família para família, no que respeita ao pormenor, constituindo em certos casos verdadeiros segredos ciosamente guardados de geração em geração. Das receitas que pudemos consultar constam especialidades das mais diversas inspirações e, curiosamente, menos de inspiração chinesa do que portuguesa antiga e indo-malaia.
Estas especialidades, considerando, apenas, as mais características, podem analisar-se sob diferentes aspectos: relacionadas com certas festividades e relacionadas com pratos característicos de diferentes etnias.
Analisemos, em primeiro lugar, as especialidades próprias do período do Natal macaense. Nesta quadra nunca podem faltar o aluá, coscorões e fartes, respectivamente considerados o colchão, a manta e a almofada do Menino Jesus, além da empada de peixe, cuja eleição talvez se relacione com a antiga prática de abstinência, à semelhança do que se faz em muitas aldeias de Portugal e que também. fazem os chineses por ocasião do seu Ano Novo.
O aluá é um doce à base de amêndoas que, em Macau, se supõe ser de origem indiana. No entanto, o aluá, é uma especialidade do mundo árabe que, há muito, entrou na Península Ibérica, dando em Portugal a alféola de outros tempos a que vários documentos antigos se referem. A receita tradicional de Macau, pelo menos usada em meados do século passado, é a seguinte: «Três quilos de farinha de arroz pulú, que se lava e se deixa assentar até ao dia seguinte, deitando-se fora a água que está por cima. Tomem-se cinco cocos, pise-se o seu miolo, que se escalda com suficiente água a ferver. Guarda-se esta infusão e o bagaço à parte. Toma—se:
AÇÚCAR..................................................... l quilo
AMÊNDOAS DOCES.............................................. q. b.
NOZE S (SE QUISER)............................................ q. b.
BANHA...................................................... l quilo
Mistura-se tudo, menos a banha, com a água de infusão de coco, e deita-se numa bacia de arame (latão) que vai ao lume. Vai-se cozendo a pouco e pouco e mexendo com uma colher de pau, acrescentando-se, a pouco e pouco, a banha. Quando a banha não se distinguir mais da massa, está cozido e vasa-se, logo, para uma mesa de pedra, besuntada de manteiga de vaca e, com o rolo também besuntado de manteiga, dá-se-lhe uma espessura igual, cortando-se quando estiver fria, em quadrados ou em feitios que se desejarem. Neste caso deve-se empregar um emporte pièce apropriado, com os feitios que se quiserem, semelhantes aos empregados nas farmácias para recortar pastilhas. Depois de pronto guarda-se. Pode guardar-se durante muito tempo, sem se estragar, mas o melhor é comê-lo fresco. Em Macau costuma designar-se o melhor aluá pelo qualitativo de Mascate115. »
É possível que o aluá tenha sido importado, em Macau, a partir da Índia, muito embora a sua origem possa ser arábica.
Os coscorões, manta, ou lençol do Menino Jesus, que algumas informadoras consideram, tam-bém, como colchão, são filhoses fritas em óleo de amendoim, fazendo-se rodar a massa numa frigidei-ra, com dois fai tchi apoiados no centro, o que lhes confere um aspecto muito semelhante ao dos coscorões do Alto Alentejo, que se fazem da mesma maneira, mas usando o cabo da colher de pau, em lugar dos fai tchi, para fazer rodar a massa.
Os fartes são bolinhos de farinha, ovos e mel que, em Macau, se substitui por açúcar, juntando-se—lhe coco, semelhantes (embora de receita mais ela-borada), aos que, desde a Idade Média, se usavam já em Portugal, em certas festividades116.
ESPECIALIDADES DO CARNAVAL
Feitos para enganar, segundo dizem os informadores, era, dantes, costume em Macau, na Festa de Quarentoras117, confeccionar bebinca de nabos, barba, e ladu. A bebinca de nabos é um pudim de rábano cozido e arroz glutinoso, que se prepara em banho-maria, muito semelhante ao lou pá kou da culinária chinesa. Barba é um doce feito com açúcar em ponto, difícil e trabalhoso, que imita umas longas barbas brancas. Ladu é, também, um doce feito com farinha de arroz glutinoso, pinhão torrado118 e feijão branco torrado e moído, que se serve, depois de pronto, coberto de farinha de feijão.
O estudo comparativo da culinária de Macau, para determinação de possíveis origens de certos pratos ou vincada originalidade de outros, está por fazer. Há, no entanto, alguns contributos bastante vá-lidos, redigidos por filhos da terra119, a partir dos quais se podem tirar algumas conclusões. Foi-nos possível, também, consultar, por amável deferência, alguns ca-dernos manuscritos de receitas culinárias, alguns da-tando, pelo menos, do século passado. A partir desses dados, podemos constatar que, em Macau, se prepara-vam receitas conventuais do século XVII, tais como manjar real, manjar branco e outros pratos, tanto salgados como doces, de origem nitidamente portu-guesa. Outros pratos parecem ser receitas indianas e malaias, fortemente condimentadas, contra as prefe-rências clássicas dos chineses. É talvez nesta pre-ponderância do uso das especiarias e dos picantes acentuados que consiste a mais forte demarcação da culinária macaense perante a culinária chinesa clás-sica tão requintada.
Dos pratos e doces característicos de Macau, seleccionámos os seguintes, que nos pareceram mais significativos:
SOPAS
Sopa lá-cá sá — É de inspiração chinesa e feita com aletria de farinha de arroz e caldo de ca-marão.
CRUSTÁCEOS E MARISCOS
Balichão caranguejo-bispo, caranguejo com flores de papaia e casquinha. Destes, é o balichão, o balachão que merece especial referência. É um molho feito com camarões pequenos, moídos com sal e chiles, curado ao sol. Conservava-se muito tempo em frascos e usava-se, frequentemente, como tempero. Este molho é, ao que parece, de origem malaia, mas a sua receita, em Macau, variava de família para família, nos seus pormenores. Há muito que os chineses imitaram esta conserva, para fins comerciais. Contudo, o molho particular, preparado pelas antigas senhoras macaenses, era de qualidade muito superior. Dizem as senhoras macaenses que o mais sabroso era aromatizado com folhas de louro, que, por isso mesmo, se chamavam folhas-balichão.
AVES
O pato de cabidela, a galinha verniz e a gali-nha chau-chau parida são três pratos em que são exímias as senhoras macaenses. No primeiro, adap-ta-se, ao pato, ave de eleição da culinária chinesa, a cabidela ibérica; nos dois últimos pratos é nítida a influência chinesa. A galinha chau-chau parida é um prato forte, preparado com ovos e gengibre (este para expulsar o vento), que as amás ou parentes chinesas davam, como primeira refeição, às mulhe-res macaenses depois do nascimento de uma crian-ça. É, aliás, equivalente à canja de galinha com ar-roz que, durante trinta dias, se dava às parturientes no Norte de Portugal.
LEGUMES
Dos legumes há que destacar a bebinca de nabos, já tratada; o margoso-lorcha, preparado com os frutos de Momordica charantia L. e com recheio de carne de porco picada; sambal de margoso, pre-paração de origem indiana, com o mesmo legume120; bredo raba-raba, uma mistura de hortaliças: cancong (Ipomoea aquatica Forsk), couve chinesa, papaia verde folhas de mostarda verde (Brasaica juncea Coss), balichão e flores de papaia, estufadas lentamente e temperadas com missó cristão. Este termo, missó, é de origem japonesa.
PEIXES
São de referir, além da empada, que é cozida no forno em pires individuais, com recheio de peixe desfiado ou picado com açafrão, o chutney de peixe, preparação de origem indiana à base de cebola, aça-frão e coco ralado, muito picante, que é particular-mente gostosa com o peixe que se vende no mercado local sob o nome de peixe cabus (do português caboz). Modernamente, em Macau, prepara-se, tam-bém, chutney de bacalhau. O peixe molho, Francis-co e o peixe têmpra são duas receitas, ao que consta, muito antigas em Macau que, ou se perderam ou não conseguimos encontrar quem as conhecesse em por-menor, muito embora vários informadores se lhes tivessem referido como sendo pratos antigos muito saborosos. É possível que o peixe têmpra se relacio-nasse com a tempura japonesa.
CARNES
Dos pratos de carne, em que é extraordinaria-mente rica a culinária de Macau, são de referir o porco balichão ta marindo e o minchi, ao que parece de origem inglesa, sendo, o seu nome, uma corruptela de minced beef (ou minced meat)121. Não se sabe, em Macau, a data de criação deste prato, que parece ser sino-europeu, mas consta que, em 1840, quando se assistiu ao primeiro surto migrató-rio dos macaenses para Hong Kong, este prato foi para ali levado, surgindo, posteriormente, numerosas variantes122. Além destas, não podemos deixar de re-ferir o porco bafá assá. Esta receita é, possivelmen-te, uma criação local, tanto podendo preparar-se com carne de porco como com carne de vaca. Os tempe-ros (pimenta, acafrão, louro e alhos picados) apon-tam para uma adaptação de uma antiga receita portu-guesa. A originalidade da receita de Macau consiste em ser a carne primeiro estufada e, depois, frita em banha até alourar. O porco chau chau com cincomaz é outro prato característico e muito apreciado. Nesta receita, usa-se a raiz de Pachyrhisus erosus L. (fancot), cogumelos, chocos e carne de porco em tirinhas, estufados em conjunto. O porco sutate tem-perado com molho de soja parece ser de influência chinesa. Em contrapartida, a chamada capela é um prato antigo de Macau que se prepara com carne de porco com o coiro, em parte picada e em parte corta-da às tiras. O nome parece advir da capa ou capela que cobre o cozinhado. Esta capa ou capela é consti-tuída pelas fatias de carne gorda, salpicadas com mi-galhas de pão ralado122A. O tacho também conhecido por chau-chau pele, é um prato de criação local con-siderado o cozido à macaense. É preparado com ga-linha, chouriços chineses, carne seca ao fumeiro, pele de porco torrada, presunto, chispe, carne salga-da, duas qualidades de couves, cogumelos e nabos, tudo cozido depois de estrugidas todas as carnes em banha. É de notar que a palavra chau-chau significa, na linguagem corrente de Macau, uma mistura e não, propriamente, a acção de mexer, fritando, a que a palavra chinesa corresponde. Cria-cria é um pre-parado em que se pode usar qualquer espécie de carnes frias. A carne é misturada, picada muito fina, com presunto chinês cozido, farinha de arroz, queijo ralado e gemas, formando-se argolas com a mistura, que se fritam em banha. Furusu é, também, um pra-to que se faz com carnes frias temperadas com gen-gibre, chile, sutate, mostarda e hortelã. Se, pelo nome, lembra uma remota origem japonesa, a horte-lã é tipicamente lusitana. O diabo é o prato talvez mais conhecido e mais apreciado da culinária de Macau. É uma forma de aproveitamento de restos de carnes, que sempre sobravam depois dos lautos ban-quetes, que ficaram famosos na tradição oral de Ma-cau. Na sua essência, é um estufado em tomate e cebola, de uma mistura de carnes, condimentado com mostarda, sal e pimenta, por vezes com pimentinhos, no caso de se desejar muito picante. É conhecido, então, por diabo furioso. Considerado uma criação de Macau, a verdade é que, no período vitoriano, diabo era um molho fortemente condi-mentado muito em voga entre os ingleses. A finali-zar esta pequena amostra da pluralidade de fontes de inspiração da culinária macaense, resta citar a vaca cabab123, cujo nome, em si, é de origem árabe123A.
ARROZ
Arroz carregado com balichão tamarindo. Este prato, que dantes se usava para piqueniques, como prato frio, é considerado de difícil digestão, mas é bastante apreciado em Macau. Prepara-se com duas ou três onças de banha para cada libra de arroz. Tempera-se, na altura de sevir, com balichão e tamarindo. O arroz gordo é um prato substancial, à base de arroz de tomate, que se serve com paio, presunto chinês, galinha, passas, ovos cozidos, bata-tas e pão frito. O arroz lap mei é considerado um arroz nutritivo e costuma servir-se no Inverno, por ser um prato quente. É preparado com arroz glutinoso, cozido com carne fumada chinesa, chouri-ço de carne de porco, chouriço de fígado, toucinho e chocos. Coze-se em banho-maria. Lá pá é ao que parece, um prato antigo cuja receita não encontrá-mos mas que, segundo algumas informadoras, é uma adaptação, com algumas variantes, do arroz lap mei.
DOÇARIA
Os doces de Macau são, na sua maioria, adap-tações (com ingredientes locais) de receitas portu-guesas, antigas, para o que parece apontar o número elevado de ovos que entram na sua composição. Al-guns doces, porém, parecem ser de inspiração dife-rente e, mesmo, criações locais. São de citar diversas especialidades que decoram os ternos enfeitados ou bolos vestidos que nunca faltavam nas grandes festas e que, ainda há pouco tempo, eram feitos por casião do Ano Novo lunar para retribuir os mimos enviados pelos amigos chineses, no Natal. Destes doces, eram característicos os beijinhos, espécie de rebuçados de ovos, confeitos123A, as laranjinhas de pagode, crista-lizadas, cuja casca era decorada por meio de incisões ou torneados feitos com instrumento metálico espe-cial. São ainda de citar os "famosos" confeitos tradi-cionais da doçaria portuguesa seiscentista.
Dos outros doces, que se podem considerar característicos de Macau, há que citar: aluá, já des-crito; baji, feito com arroz glutinoso, coco ralado, açúcar e leite124; batatada, bolo apudinado feito com batata doce, coco ralado e ovos; bebinca de leite, cujo nome faz lembrar a bebinca em folhas ou cama-das, característica da doçaria de Goa mas, contudo, daquela não possui senão o nome, pois é uma espé-cie de leite creme feito com água de coco e, depois, queimado com brazas dispostas sobre uma tampa de lata; bicho-bicho, que são biscoitos fritos e cujo nome deriva da sua forma alongada resultante do efeito de se torcer a massa, duas ou três vezes, a partir de um cilindro fino de, pelo menos, um palmo de comprimento; bolo amante, bolo muito apreciado e, ao que parece, de longa tradição em Macau. Este bolo, tal como o bolo, entena podre, bolo leque e bolo pinhão, um bolo adaptado de receitas portugue-sas, com numerosas variantes, que diferentes doceiras conservam em segredo. Merece especial re-ferência o bolo castelhano ou castela, por ser uma espécie de pão-de-ló, que também encontrámos em Nagásaqui, como atrás se disse. Bolo mamune é um bolo de passas que nos parece de influência inglesa. Corresponderá mamune a Mammon, deus da rique-za? O bolo favorito que talvez possa considerar-se o emblema da doçaria macaense é, porém, o bolo me-nino, tido por uma especialidade de inspiração local. Celicário é o nome dos bolinhos preparados com doze gemas e quatro claras, leite fresco e açúcar pedra125 derretido, que se cozem em banho-maria, em forminhas cobertas com uma tampa sobre a qual se colocam brasas de carvão para tostar a superfície. É considerado um dos doces mais antigos do territó-rio. Chá-chá é um caldo doce, feito de coco, feijão—verde, sagú126 e inhame. Dodol é um doce de pera em calda. Fula-fula são bolinhos que se preparam com arroz glutinoso, j agra, amendoim torrado e tiras de coco cristalizado. A mistura é colocada num ta-buleiro, cortando-se, depois, os bolos com a forma de losangos. F avinhas de mel são bolinhos pequenos cuja receita não encontrámos. Ladu é um bolo cozi-do a vapor cuja base é o arroz glutinoso torrado e moído, jagra, pinhão torrado e moído, coco ralado, feijão-branco também torrado e moído e pimenta em pó. Depois de cortado aos quadrados, cobre-se com pó de feijão peneirado. Marcazote, ao que parece, é uma antiga receita portuguesa de bolinhos confeceionados à base de ovos, açúcar e farinha de trigo, cozidos em formas pequenas. Muchi são bo-linhos cujo nome parece ser de origem japonesa127. Consiste em bolinhos de massa de farinha de arroz glutinoso e feijão branco torrado e moído, com re-cheio de jagra, coco ralado, feijão e gergelim torra-dos. Estas bolinhas são cozidas em água a ferver e recheadas depois de frias. Também são conheci-das, em Macau, por apa-muchi, Onde-onde é seme-lhante ao muchi, mas simplificado. Saran-surave é outra especialidade macaense de tradição muito antiga. D. Maria Magarida Gomes conta uma poé-tica lenda sobre a origem deste bolo, que não é mais do que um pão-de-ló, com dezasseis ovos, co-zido em banho-maria128.
DIVERSOS
Betele vestido - Sempre que havia uma recep-ção em Macau era costume oferecer-se aos convi-dados talhadinhas de areca e folhas de betele en-volvidas em papel de seda finamente recortado. Chi-le missó é o molho de malagueta correspon-dente ao lat chiu chéong dos chineses, por analogia com o missó cristão já atrás referido, O xarope de folhas de figueira é preparado com açúcar-pedra e folhas de figueira, árvore, aliás, muito rara em Ma-cau onde se desenvolve mal. Este xarope pretende imitar o xarope de capilé, com a vantagem de ser considerado uma frescura129. Representa, assim, á excepção da culinária macaense, que transforma receitas importadas em função dos ingredientes lo-cais. Pão de casa é o nome dado em Macau, por alguns informadores, ao pão-de-ló português.

Nhonha com dó e interior de uma casa macaense modesta.
Reprodução de uma aguarela do album do comandante Filipe Emílio de Paiva (1902-1903).
Col. Res. da Bib. da Soc. Geografia de Lisboa. (Foto de Carlos Marreiros).
TRAJO
Os macaenses ou filhos da terra vestem, hoje, todos à europeia e, apenas no Inverno, alguns pre-ferem os min-hap (casacos chineses acoichoados), aos pesados sobretudos do Ocidente. As senhoras também vestem, por vezes, principalmente quando se encontram fora da sua terra, uma cabaia em boa seda ou em brocado quase sempre enriquecida com valiosos bordados. É que, de facto, tanto o min-hap como uma bonita cabaia são trajos sóbrios, leves e muito elegantes, que ficam bem às macaenses de compleição delicada.
Noutros tempos, tanto os portu-gueses reinóis como os seus descendentes, vestiam pelos modelos da Europa, que não se encontravam adaptados ao clima de Macau. Segundo diz Linschoten130. os portugueses de Goa vestiam-se como os do Reino, dispensando, porém, as meias e usando botas de cano mais baixo. É de crer, por comparação com as figuras que ilustram os biombos namban, que se podem ver no Muscu de Arte Antiga, em Lisboa, e pelas raras representações iconográ-fi-cas de tipos masculinos de Macau, que os usos fossem semelhantes nas duas cidades. Se os homens usavam estes trajos, provavclmente em tecidos mais leves e mais caros do que os que se usa-vam em Portugal, as suas mulheres e fi-lhas, asiáticas ou euro-asiáticas, muito cedo começaram a usar um trajo novo, criado nas praças portuguesas, talvez em Goa, inspirado na maneira de trajar das mulheres indo-malaias. Esta trajo, que, por sua vez, havia já sofrido uma certa influência isiâmica, era curiosa-mente semelhante, no seu conjunto, ao vestuário que usavam, ncssa altura, as mulheres ibéricas. Tal vcstuário, fresco e próprio para suportar os Verões cálidos da Ásia das Monções, era a chamada saraça-bajú, semelhante ao pano bajú ou saraça-quimão, usado pelas mulheres cristãs de Goa, e que logrou perdurar no Ori-ente até princípios do século xx131. A saraça-bajú com-punha-se de três peças: uma paça de pano, que se enrola-va à cintura a servir de saia, semelhante aos sarong malaios; uma blusinha curta, em pano muito fino, corta-da à maneira de quimono, sem degolação; e uma terceira peça de pano, semelhante à primeira, que as mulheres colocavam pela cabeça, à maneira de véu ou manto, quando saíam. É, aliás, a este manto que, em Macau, se chamava saraça, termo derivado do malaio, sarasah e que, originalmente, era o nome do pano que se enrolava à cintura e era usado por mulheres das mais vari-adas etnias. Os tecidos mais estimados em Macau eram o algodão estampa-do, importado da Malásia ou de Manila, e os panos de seda pinta-dos que se compravam em diver-sos portos da Índia e aos quais Duarte Barbosa se refere com bastantes pormenores no seu livro 132. Debaixo da saraça colocava-se o condê, peça de papelão ou papel go-mado preso com um pano branco que se atava na nuca debaixo do nó do cabelo, que se usava repuxado e preso atrás. Este condê parece corresponder à armação, mais ou menos complicada, com que se toucavam as mulheres do mundo islâmico e que era sempre ajustada por um lenço, branco na maior par-te dos casos. Servia para altear e sustentar o véu. É curioso notar que condé significa o nó de cabelo que as mulheres casadas ajustam na nuca, em forma de calote, em todo o arquipélago malaio e nalguns pon-tos da Índia, sendo, aliás, o seu étimo tima palavra tamul que faz parte, também, do dialecto timorense sempre com a mesma acepção. Em Macau, o penteado em calote que as mulheres casadas, do povo, também ali adoptaram, tem porém, o nome de chiquia. E nossa convicção que esta palavra chiquia é uma corruptela de chechia, que corresponde à supracitada armação que serve de toucado às mulheres do mundo islâmico, tendo havido, assim, uma troca de palavras ou de conceitos.
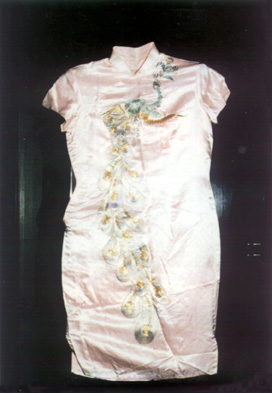
Cabaia comprida. de cetim. bordada a fio dourado e prateado. Motivo fenlx com duas flores no bico (simbolo do principio feminino e da imperarrias e usada pelas scnhoras macacnses em ocasiões festivas.
Mcados do Século XX.
(Col. Pe. Albíno P. Borges).
Mais tarde, à semelhança de Goa onde as senhoras casadas, à imitação das que iam do Reino, usavam man-to ou mantilha preta, e as solteiras, mantilha colorida, a saraça preta teria feito a sua entrada em Macau, princi-palmente depois de ter sido condenado o antigo trajo pelo bispo D. Hilário de Santa Rosa, nos fins do século XVIII, o que provocou grande celeuma e escândalo no território133.
É natural que, antes disso, já a saraça preta sc usasse como traje de dó, à maneira do que sucedia no Reino. Daí, a mantilha preta hibridada com a vclha saraça teria dado o dó das nhonhonha de Macau, espé-cie de bioco no qual se envolviam quando saíam de casa, principalmente para irem à missa, encobrindo, modestamente, o rosto. Este dó consistia em duas jardas de seda sura ou seda cordão134, tendo, por dentro, o que restava do antigo condê: um pcdaço de papel gomado ou papclão, de forma rectangular, com duas fitas laterais que o prendiam atrás da chiquia. Este rectângulo interi-or, de pequenas dimensões, servia apenas para dar for-ma ao bioco que, nalguns casos, tinha cosido um arame fino no seu rebordo para maís facilmente poder ser mo-delado. Debaixo do dó, muitas eram as senhoras que usavam uma touca preta ou branca, mas preferencial-mente branca, para proteger a seda do dó da bandolina135 com que alisavam e lustravam os belos e fartos cabelos negros.
Um dó fazia-se com quatro jardas de seda, que se cortava a meio, unindo-se as duas tiras de duas jardas, no sentido do comprimento, para se obter a largura desejada. Quando a sua possuidora falecia, o dó era, de novo, rasgado, a meio, para lhe servir de mortalha, contornando-a como se fora Santa Rita de Cássia, no dizer das antigas senhoras de Macau. Assim se explica que os velhos dós tenham desaparecido com as últimas macacnses que os usaram.
Completavam o trajo, um vestido em seda ou bro-cado, para os dias de maior cerimónia, ou, nas classes menos favorecidas, a saia e blusa das mulheres ibéricas. O bajú fino veio a dar a cabaia-chacha, igualmente ta-lhada em quimono e que era o trajo de interior, usado pelas senhoras idosas, ainda no princípio do século. Era confeccionado em pano elefante branco (pano com marca elefante), importado da Índia, ou noutro, pano forte, geralmente com riscas. Esta cabaia não tinha degolação, nem no pescoço, nem nas cavas, lembrando um quimono curto, que se fechava adiante, com um bro-che filigranado e com botões de ouro, ou mesmo de dia-mantes, de acordo com as posses de quem a usava.
Quanto aos homens, os reinóis envergavam, como já se disse, trajos europeus, mas, pelo menos, os nhons, seus filhos, que, no exterior, usavam ves-tuário igual ao dos pais, vestiam, no isolamento de suas casas, calça moura e baniane (dóiman branco com botões dourados) à maneira de Goa. Aliás, era um vestuário deste tipo que constava, como traje de Invemo e de Verão, do guarda-roupa dos meninos órfãos asilados, como pode constatar-se da lista pu-blicada no Boletim Oficial do território136.
Enxoval dos meninos asilados da Santa Casa da Misericórdia (de Macau) em 1907 (Boletim Ofi-cial n. ° 12, de 1907):
No Inverno
baneanes de ganga-pelio
quinzenas de panno ou casemira
calças da mesma fazenda
calções na mesma ganga
[...]
No Verão
quinzena branca ou assucarada ou kaki
calças da mesma fazenda
camizas brancas ou de cores
baneanes brancos
calçõcs brancos
Como sinal de distinção, os portugueses de Macau, tanto reinóis como seus descendentes, em-punhavam, sempre, noutros tempos, uma pequena chibata de rota, ou traziam à cinta uma bela espada, emblema de prestígio que não podiam dispenssar. Mais tarde, alguns substitufram estes atavios por uma bengala, à maneira da Europa.
JOGOS E PASSATEMPOS
A influência indo-malaia manifesta-se, ainda, entre os macaenses, por meio de outros padrões da sua cultura tais como os jogos e os passatcmpos.
Dos antigos jogos e passatempos que chegaram aos nossos dias, e que reflectem nítida influência orien-tal não chinesa são de citar, entre outros, a chonca, algu-mas adivinhas populares. e o tão característico bater saia, para fazer ternos de festa enfeitados.

Conjunto de cartas de bafá (Foto de Carlos Marrciros).
A CHONCA
A chonca é a tradicional mancala ou xadrês africa-no que, em Malaca, era considerado o jogo nacional, antes da proibição dos jogos de azar pelo actual gover-no. Denominado chong kak pelos malaios é também as-sim conhecido pelos cristãos iuso-descendentes de Malaca, O nome de Macau parece ser uma nítida adapta-ção do nome malaio. Curiosamente, as regras de jogo, que variam com os informadores, reflectem não só influ-ência malaia mas também timorense e dos próprios ne-gros da África Ocidental137.
Actualmente, em Macau, usam-se caroços de long-ngan (sementes dos frutos de Euphoria longana Steud.) ou de margoseira (frutos de Melia azedarach L.) mas, nos antigos tempos, eram usados cauris, conchas que serviam de moeda e daí o jogo ser conhecido local mente por jogo das conchinhas, Devido à simplicidade das suas regras, era um jogo essencialmente feminino, como, aliás, o era no mundo islâmico, sendo frequente as avós entreterem, assim, os netos durante os dias de tufão em que se tornava impossível sair de casa. Este jogo, com a escolarização feminina, ficou relegado às mulheres idosas, preferindo, as outras, jogos mais ela-borados como o má-chéok, de origem chinesa. O má-chéok aliás, foi o natural substituto do jogo de bafá, jogo adaptado do chinês, uma criação genuinamente macaense.
ALGUMAS ADIVINHAS
Poucas são as adivinhas portuguesas de Ma-cau de que encontrámos notícia. No entanto, citare-mos algumas que consideramos mais representati-vas138:
Artu, artura,
Metido na prisan
Sem çã baptisado
Cö nome de cristan
R: Çã martinho (Gracula religiosa L.)
Esta adivinha é semelhante a uma outra de Goa, da qual supomos derivar, uma vez que a forma portuguésa não é rimada, pensando nós, por isso, que seja tradução directa do concani:
Nasceu no mato,
Viveu no palácio.
Sem ser batisado,
Tem nome de cristão
R: Pássaro martinho
A diferente forma dos dois primeiros versos, advém de ser, o martinho, uma ave da fauna india-na, que, em Macau, algumas famílias possuíam engaiolada, por ser uma ave falante.
Outro exemplo:
Telado vermelo.
Parede branco.
Ung-a padri cafri,
Chapado na canto
R: Çã lichia139
Esta adivinha parece relacionada com a adivi-nha seguinte, popular em Goa e, ao que tudo leva a crer, também tradução da língua nativa local:
Casa com relva,
Tem muitos quartos,
E dentro de cada quarto,
Um frade
R: Anona
E para terminar:
Dreto (direito) levá torto,
torto levá morto,
Morto trazê vivo
R: Çã pescá
Esta adivinha é semelhante à que é corrente, ainda, entre os cristãos de Malaca:
Bai morto,
Bem bida
R: pescá140
É de notar, ainda, que esta adivinha é, tam-bém, muito semelhante à que Adolfo Coelho, reco-lheu em Cabo Verde141:
Preto corcobado,
Que tá lêbá morto,
Tá trazê bibo
R: Anzol
Outros passatempos referem-se à prática da música e da dança. São muito poucos os testemu-nhos de canções ou de danças próprias de Macau. Porém, é de citar a nana que alguns supõem ser uma antiga cantiga de ninar mas que nós pensamos ser uma adaptação da popular nona de Malaca que, ali, ouvimos entoar com versos, muitas vezes improvisa-dos, lançados ao desafio e cujas quadras começam, quase sempre pela estrofe ó nona, mia nona, sendo nona, como já se disse atrás, o nome atribuído às raparigas. Em Macau foram, ainda, registadas outras músicas como a célebre canção de Cathrina, que nos parece, no entanto, muito mais recente. Quanto a danças, o chotiz142 ou chotiça, parece ter-se dançado, em Macau, à moda do mandó de Goa, com muitos meneios. A sua lembrança ficou registada numa quadra da citada canção da Cathrina e nos papéis do espólio de João Feliciano Marques Pereira.
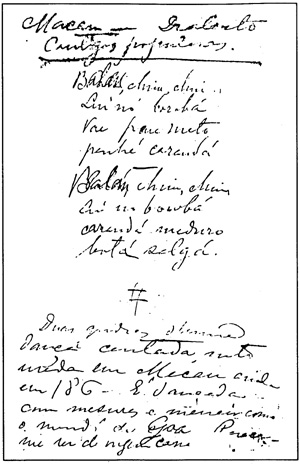
Balam chim chim
Liu143 no borobá
Vai para mato
panhá carandá143A
Balam chim chim
Liu no borobá
Carandá maduro
botá salgá
Estes versos parecem uma adaptação dos que Mons. Sebastião R. Dalgado registou em Damão:
Carandá madur panhá
Verd butá salgá, ó Dungá (ó Domingas?)
Aqui panhá, alli ranhá
Verd butá salgá, ó Dungá
Carandá é o fruto de Carissas carandas L.
(Mons. S. R. Dalgado - «Dialecto indo-português de Damão», separata de Rev. Ta-Ssy-Yang-Kuo. Lisboa, 1903, p. 23.)
Outra canção antiga que ficou na lembrança dos macaenses é: O Saiam de Macau
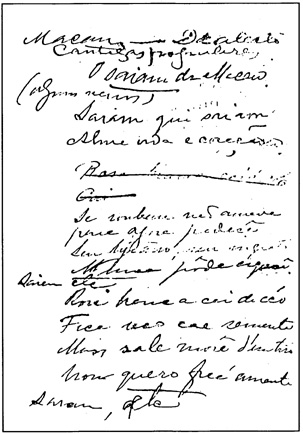
O Saiam de Macau
Saiam144 qui saiam
Alma vida e coraçãm
Se soubesse não amava
Para agora padecê
Seu tyrano seu ingrato
Nunca pôde esquecê
Saiam, etc.
Rosa branca cai de céo
Fica seco cae semente
Mais vale morê d'um tiro
Nom quero ficá amante
Saiam, etc.
Papéis do espólio de João Feliciano Marques Pereira.
Col. Res. B. S. G. Lisboa.
A primeira quadra assemelha-se à forma re-gistada em Damão:
Cega foi amar
a tua belleza Ingrato e tyranno
Que não tem firmeza
(Mons. Sebastião R. Dalgado, ob. cit., p. 24.
TRABALHOS "DE MÃOS"
Na sua tradicional reclusão, as mulheres de Macau entregavam-se a trabalhos de costurinha, 145 bordados a mutri e carrachada146 e, mais moderna-mente, a bordados a matiz, com estilo nitidamente hibridado das técnicas portuguesa e chinesa.
Outra técnica hibridada é a do bater saia, arte do papel recortado, de inspiração popular e freirática, muito provavelmente bebida também nas fontes orientais.
As senhoras macaenses, além de cestinhos e vestidos para bonecas, faziam, em papel de seda re-cortado, rouches e folhos para decorarem armações em madeira, os tabuleiros, onde dispunham confeitos, bolos, muitas vezes especialidades de se-gredo, e frutos cristalizados tradicionais do Ano Novo chinês. Foi dos folhos que vestiam estes con-juntos, como verdadeiras saias rendadas, que veio o nome local desta arte do papel recortado, batê saia.
Esses bolos vestidos, enriquecidos com especia-lidades doceiras, eram, geralmente, apresentados em armações de três andares, o nome de temos ou tornos, pela qual ficaram conhecidos no vernáculo macense. Donde terá surgido a inspiração para se executarem estes conjuntos, geralmente de três andares, que, se-gundo a tradição oral assegura, há muito mais de um século são populares em Macau? Supomos que te-nham sido os bolos festivos dos casamentos malaios os inspiradores da decoração destes primeiros bolos de Macau, hibridados com os tabuleiros festivos das fogaças, tão populares nas aldeias portuguesas147.
Os temos macaenses eram de diferentes tipos, que se podem, porém, repartir por três grupos distintos:

"Bolos vestidos" dos anos 70.
a) temos de secção quadrada, tipo pagode, que em certos casos podiam atingir um metro e meio de altura, com cinco andares ou tabuleiros sobrepostos;
b) temos de secção circular, também sobre-postos;
c) conjuntos de três, quatro ou cinco tabuleirinhos, pequenos e circulares alcandorados a diferentes níveis, sobre armações de rotim, madeira ou mesmo, de ferro.
Muito estimados, por ocasião do Ano Novo Lunar, como retribuição da população portuguesa aos seus amigos chineses, das prendas enviadas, por aqueles, pelo Natal, estes temos deixaram de ter, nos tempos actuais, a antiga procura, devido aos preços elevados do seu próprio material de base e, também, ao pequeno número de senhoras que os sabem ar-mar, ainda, devidamente.
É porém, na medicina popular e nas práticas de magia que a cultura macaense atinge o seu mais alto grau de poli-hibridismo. Tal como no vocabulá-rio, surgem na medicina, que o povo conservou, prá-ticas medievais portuguesas e da medicina erudita seiscentista, mezinhas chinesas, profundamente transformadas, e concepções simbólicas malaias, in-dianas e chinesas, a par de práticas mágicas popula- res ainda muito frequentes nas nossas aldeias e, até, nos bairros periféricos das cidades
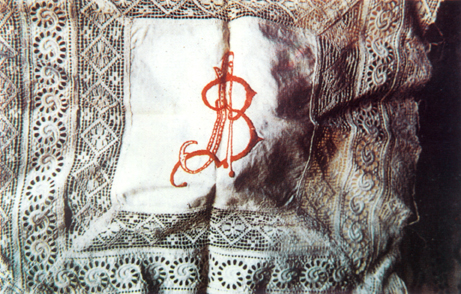
Exemplar de costurinha das senhoras macaenses (fins do séc. XIX): lenço de linho, rendado, com monograma.
5. CONCLUSÕES
Os portugueses, no Oriente, miscigenaram-se com mulheres das mais diferentes etnias. Primeiro, o regime de mancebia teria precedido o de casamento. Sabe-se que os filhos mestiços, quando varões desde muito cedo foram objecto de protecção dos pais: po-rém, quanto às filhas, muito pouco se sabe. Não há dados que garantam que tenham sido, sempre, favorecidas com dotes para se casarem, ou que, em certos casos, atendendo à mentalidade da época, não tenham sido, apenas, relegadas ao estatuto de escra-vas, igual ao do das mães. É de crer, porém, com base em certos dados apresentados ao longo deste capítulo, que tenham sido, na maior parte dos casos, escolhidas para companheiras dos portugueses, ou dos seus fi-lhos, as mulheres euro-asiáticas, devido à sua natural facilidade de comunicação linguística, maior proximi-dade biológica, possibilidade de dotes ou heranças e, também, à beleza que caracteriza muitas delas. Muitas destas mulheres teriam, também, enchido os mos-teiros, quer o de Macau, quer o de Santa Mónica de Goa, ao longo do século XVII148, pois muitos pais preferiam fazer professar as filhas do que casá-las no seio de uma sociedade onde reinava a devassidão149.
Ao que pode deduzir-se de vários depoimen-tos coevos, as mulheres malaias eram as mais afectivas e aquelas que mais se prendiam aos seus companheiros. Daí, o poder pensar-se que tanto malaias como luso-malaias tenham merecido, depois da conquista daquela praça, o favor dos portugueses, que passaram a levá-las nos seus barcos, ao que es-tas se prestariam de melhor agrado do que outras mulheres asiáticas pela sua dedicação ao homem a quem pertenciam. As suas descendentes teriam sido, quanto a nós, bem como as luso-indianas, as mulhe-res legais dos portugueses, quando, mais tarde, a cidade de Macau recebeu, com o seu foral, privilégi-os que tornaram florescente o seu comércio. Alguns dos seus habitantes enriqueceram, atraindo, então, outros homens de Goa, que para ali se deslocaram com as respectivas famílias. Com a entrada, em Ma-cau, de japoneses, cochinchinensas e timorenses, o pool genético dos macaenses, já então muito rico, ter-se-ia enriquecido mais ainda. Com a queda de Malaca e a chegada, a Macau, de muitas famílias daquela praça, o sangue malaio e os respectivos usos teriam assumido, de novo, na cidade, papel prepon-derante que, mais tarde, as escravas timoras teriam sabido, em parte, conservar.
Entretanto, ter-se-iam diferenciado vários estratos sociais: o dos macaenses mais abastados, descendentes, nalguns casos, da velha fidalguia do Reino; o dos macaenses de menos posses, onde o sangue português era, no entanto, frequentemente renovado; e o dos mais desfavorecidos, em que se integravam crioulos ou criações sem dotes, os mes-tiços de negros, de canarins, de timores e de chine-ses e, talvez, os próprios chineses cristãos. Os dois primeiros grupos preferiam casar com as nhonhonha macaenses, euro-asiáticas com bons do-tes, verificando-se, muitas vezes, casamentos consanguíneos, entre primos, para aumentar fortu-nas ou não abastardar linhagens. Quanto às rapari-gas, a sua preferência era dada ao europeu. Nos grupos sociais menos favorecidos, nos quais, facil-mente, se integrariam os degradadados fugidos à justiça de Goa, aventureiros ou homens sem fortu-na far-se-iam, mais facilmente, casamentos com chinesas ou gentias, crioulas, filhas de escravas ou mulheres mestiças com sangue chinês de geração próxima, mulheres que a classe privilegiada nunca tomaria para esposas por mero preconceito social.
Como escravas, as chinesas, tal como outras mulheres nativas de outros pontos da Ásia e de Timor e, até, de África serviriam, em grande núme-ro, os seus patrões, sendo suas mancebas. Nos pri-meiros tempos da fundação de Macau era, aliás, por inspiração dos grandes senhores orientais, uma forma de prestígio ou de ostentação de riqueza pos-suir numerosas escravas como concubinas. Destas uniões resultariam, naturalmente, filhos, e, daí, as doações, por vezes avultadas, deixadas, em heran-ça, a crioulos sem apelido, e as vendas ou doações de escravas, imediatamente após a morte do dono da casa, pelas respectivas viúvas150. Assim, ciosos dos pergaminhos da sua ancestralidade, ter-se-iam isolado antropológica e socialmente, os macaenses, até à abertura do seu grupo à sociedade chinesa, nos fins do século passado.
Conhecemos, ainda, em Macau, nos anos 60, senhoras de 70/80 anos que não sabiam falar, cor-rectamente, cantonense e, disso, se orgulhavam. Igual desprezo tinham pelos chineses como pelos portugueses-europeus, desde que fossem soldados ou civis de baixa condição social. E isto porque as mulheres orientais, de todo o sempre, detiveram padrões de cortesia e higiene muito superiores aos dos homens do Ocidente que demandavam as suas terras. Daí, a aculturação ter-se feito, em muitos casos, no sentido Oriente-Ocidente. Tal facto está patente nos padrões característicos da cultura espe-cificamente macaense: uso de um léxico próprio; modo de trajar mais consentâneo com os rigores do clima; noções muito válidas de profilaxia e dietética; requintes culinários e artísticos muito próprios: e um repositório muito vasto de mezinhas de casa perfeitamente demarcadas, muitas delas, tanto das dos chineses como das da Europa. Tudo isto está em degradação nos nossos dias e em vias de se perder, devido à grande abertura local dos macaenses, tanto aos padrões do Ocidente, como aos dos chineses de qualquer classe social.
A questão de serem, ou não os macaenses, descendentes de portugueses e chineses, respondere-mos que, em nossa opinião, desde todo o sempre os houve, uma vez radicados, os portugueses, na China. Contudo, os macaenses como grupo formado por al-gumas famílias de elevada condição social, não o são. É que essas famílias, cujos antepassados, no-bres ou enriquecidos, se vieram a fixar em Macau, se se casaram com chinesas, tal facto não foi siste-mático, mas ocasional. Posteriormente, os casa-mentos homógamos, ou com reinóis, vieram a di-luir essa miscigenação. Quanto às famílias mais modestas, também eram orgulhosas dos seus ante-passados europeus e teriam, sempre que possível, imitado as classes mais favorecidas quanto à homogamia e ao casamento preferencial. Nestas fa-mílias macaenses, os filhos de ligações com chine-sas adquiriam o estatuto de crioulo, indivíduo inte-grado mas não fazendo parte da família. A acelera-da miscigenação entre portugueses e chineses, em Macau, data, principalmente, dos fins do século passado, princípios do presente século, começando a fazer-se, nomeadamente, entre os grupos sociais economicamente mais débeis. Muitas macaenses casavam-se com militares, sendo preferidos os de patentes mais elevadas, ou com funcionários quali-ficados, mesmo no caso destes terem antepassados chineses ou de outros pontos da Ásia, pois haviam adquirido um estatuto social superior. Este facto vem atestar que o isolamento dos macaenses não deve ter sido, nunca, consequência de preconceitos raciais, mas sim de preconceitos vincadamente so-ciais.
Muitos destes exemplos, que acabámos de apontar, conhecemo-los durante a nossa permanên-cia em Macau. Nos antigos tempos é natural que os preconceitos fossem os mesmos e, naturalmente, mais acentuados.
No final do século XX, que rumo seguirá a sociedade macaense e em que medida os macaenses conservarão os seus antigos padrões culturais hibridados?
RESUMO
Os filhos da terra constituem um grupo sui generis que se isolou em Macau, fruto de pressões de índole social e económica.
Do ponto de vista antropobiológico, os filhos da terra constituem um grupo de luso-asiáticos com fundo genético muito rico, cujo estudo cientí-fico, em amostragem representativa, nunca foi fei-to; estudo que, aliás, hoje deve ser difícil, se não impossível, de realizar devido à forte abertura à sociedade chinesa, já esboçada nos fins do século passado.
No entanto, do ponto de vista cultural, como exemplo típico de convergência de culturas, o gru-po dos filhos da terra continua a manter padrões hibridados ou francamente originais, que lhe confe-rem vincada originalidade. São a culinária tradicio-nal, o falar da terra, os trabalhos de costurinha e o de batê saia, certos passatempos e os doces nominhos de casa, que Bocage imortalizou no seu soneto a Beba.
Pensar Macau sem pensar nos filhos da ter-ra, portugueses do Oriente, por vezes tão injusta-mente ignorados, é esquecer os não só quatro séculos de história social do território, mas também a herança mais nobre e a jóia mais valiosa, que os portugueses de quinhentos legaram aos seus vin-douros.
NOTA DA REDACÇÃO
Com algumas correcções e adaptações neces-sárias, e da responsabilidade dos editores, o texto aqui publicado é a reedição integral da obra da Prof. Doutora Ana Maria Amaro, editada pelo Insti-tuto Cultural de Macau, com o mesmo título, em 1988.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
ALMEIDA, António de; ALMEIDA, Maria Emília Castro e — «Contribuição para o estudo antropológi-co dos chineses de Macau (Residentes no Timor Português)» in Estudos Científicos oferecidos em homenagem ao Prof. Dr. J. Carrington da Costa [...]. 1961 - 1962, Lisboa, J. I. U., pp. 291 - 301.
ALMEIDA, António de; ALMEIDA, Maria Emília de Castro e; VIEIRA, Miguel. «Contribuição para o estudo do sistema ABO em chineses de Macau» in Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto, vol. 21, 1969,57-68.
AMARO, Ana Maria. Alguns Aspectos da Sociedade Macaense no Século XIX (no prelo). AMARO, Ana Maria. Jogos, Brinquedos e Outras Diversões de Macau. Macau, Imprensa Nacional, 1976.
AMARO, Ana Maria. Os Macaenses Como Grupo (no prelo).
AMARO, Ana Maria. Três Jogos Populares de Macau: Chonca, Talú, Bafá. Macau, Imprensa Nacional, 1984.
ANDRADE, José Ignacio de. Cartas escrtiptas da Índia e da China nos annos de 1815 a 1835. Lisboa, MDCCCLVII, vol. II.
BATALHA, Graciete N. Glossário do Dialecto Ma-caense. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1977.
BOCARRO, António. «Livro das Plantas de todas as fortalezas, cidades e províncias do estado da Índia Oriental» (1608 - 1699) publicado e anotado por A. B. de Bragança Pereira in Arquivo Português Orien- tal. Vol. II, tomo IV, parte II, 1940, pp. 32 - 52.
BOXER. C. R. Fidalgos in the Far East. 1550-1770 [...], Haia, 1948.
HULSE. F. S. «Migration and Cultural selection in Human Genetics» in The Anthropologist, volume especial, Delhi, 1968.
LAPLACE. M. Voyage autour du Monde sur la corvette La Favorite, pendantlesannés 1850,1851 et 1852 [...]. Paris, Imprimerie Royale MDCCCXXXIII, tomo II, p. 227 - 276.
LESSA, Almerindo. A História e os Homens da Pri-meira República Democrática do Oriente, Biologia e Sociologia de uma Ilha Cívica. Macau, Imprensa Na-cional, 1974.
LESSA, Almerindo; RUFFIÉ, Jacques. «Le facteur Diego chez les Chinois originaires de la province de Kouangtong» in Bull. et Mém. Soc. Anthrop. Paris 9 (12), 1966, 171 -208.
Manuscritos do Arquivo Histórico Ultramarino (diversos)
Manuscritos da Biblioteca da Sociedade de Geo-grafia de Lisboa (diversos)
Manuscritos da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora (diversos)
Monografia de Macau, trad. de Luís G. Gomes. Macau, Imprensa Nacional, 1950.
RÊGO, Francisco Carvalho e. Macau, Imprensa Na-cional, Macau, 1950.
RÊGO, Francisco Carvalho e. Macau, Imprensa Na-cional, Macau, 1950.
ROPARTZ, C. et coll. «Intérêt des Groupes de gamma-globuline Gm et Inv dans L'appréciation du métissage des populations: études des grupes sèriques dans 1'Ouest africain et 1'Extrême-Orient» in Rev. Franç. Études Clin. et Biologiques, 8. 1963, 465-472.
SCHEIDER, F. «Consanguinité et Variations biologiques chez 1'Homme» in La Recherche, 31(7). 1976.
SENNA, Maria Celestina de Mello e. Bons Petiscos por Celestina, 2.a ed. C. I. T., Macau, 1977.
SOUSA, P. Francisco de. Oriente Conquistado [...]. Lisboa, 1710.
TEIXEIRA, P. Manuel. Galeria dos Macaenses Ilus-tres do Séc. XIX, Macau, Centenários da Fundação e da Restauração, Imprensa Nacional, 1942.
TEIXEIRA, P. Manuel. Os Macaenses. Macau, Im-prensa Nacional, 1965.
VASCONCELOS, Frazão de. «A Aclamação de D. João IV em Macau», in Bol. da A. G. C. Lisboa, n. ° 53, ano V, 1929.
ANOTAÇÕES
1A dificuldade reside na reduzida amostragem de que se dispõe.
2Bento de França— Macau e os seus habitantes, relações com Timor, Lisboa, Imprensa Nacional, 1897, p. 197.
3Álvaro de Mello Machado — Coisas de Macau, Lis-boa, Livraria Ferreira, 1913, p. 651.
4Francisco de Carvalho e Rêgo — Macau, Macau, Imprensa Nacional de Macau. 1950, pp. 31 - 38.
5Eduardo Brazão— Macau Cidade do Nome de Deus na China — Não há outra mais Leal, Lisboa, A. G. U., 1957, p.71, nota 50.
6Carlos Augusto Gonçalves Estorninho, «Macau e os Macaenses», (Divagações e Achegas Históricas) Bol. do Rotary Clube de Lisboa, n. ° 168, Março de 1962.
7Padre Manuel Teixeira — Os Macaenses, Macau, Im-prensa Nacional, 1965.
8O Arquivo Paroquial de Santo António por ter ardido não pode oferecer-nos os dados decisivos para esclare-cer este assunto, uma vez que esta foi a primeira paróquia de Macau. Os livros de assentos das restantes paróquias são, também, relativamente recentes datan-do, os mais antigos, do século XVIII.
9O Padre Jerónimo Fernandes num breve apontamento datado de 1561, registou que os portugueses, na Índia, preferiam as mestiças para suas mulheres (Vitorino Ma-galhães Godinho — «Oriente» — in Dicionário de Histó-ria de Portugal dirigido por Joel Serrão, vol. IV, Lisboa, Macau certamente não terá sido excepção. De Goa teriam ido para ali, muito possivelmente, algumas destas euro—asiáticas, tal como foram, de Malaca em 1641, quando aquela praça caiu em poder dos holandeses.
10Nhonhonha — plural de nhonha (mulher ou filha de europeu) e, por extensão, filha da terra de ascendência portuguesa.
11Padre Francisco de Sousa — Oriente Conquistado [...], Lisboa, 1710.
12Fernão Mendes Pinto — Peregrinaçam, Ed. preparada e organizada por A. J. da Costa Pimpão e César Pegado, Porto, Portucalense Editora, 1944, 7 vols.
13Frei José de Jesus Maria — Ásia Sínica e Japónica, Obra póstuma e inédita do frade arrábido Jorge de Jesus Maria, Ed. por C. R. Boxer, Macau, 1941.
14Acompanhando damas de alta linhagem ou parentes próximas de fidalgos enviados para desempenhar altos cargos.
15«Padre de hu'a carta q'hum homem/honrado escreveu da China» [...] a 20 de Novembro de 1566. Mss. da Bibl. da Ac. de Ciências, in Cartas do Japão, III, V, 287 - 298 v, cit. por Padre Benjamim Videira Pires — «Cartas do Fundadores», in Bol. Ecles. da Diocese de Macau, Ano e vol. LXII — Out. e Nov. de 1964, n. os 724 - 5, pp.798 - 900.
16Papéis de D. Francisco Mascarenhas, Mss. da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, Cod. CXVI/2 - 5, fls. 226 - 232.
17Os vizinhos não eram necessariamente moradores, porque este termo refere-se aos habitantes dos conce-lhos que gozavam integralmente das prerrogativas mu-nicipais. Os não arreigados ou extravagantes eram os que tinham residência temporária na cidade, havendo, ainda, os absolutamente estranhos à terra, que aí apa-reciam fugazmente e que eram chamados homens do fora parte. Na relação de D. Francisco de Mascarenhas não constam residentes desta categoria mas são referi-dos os homens da terra, provavelmente os euro-asiáti-cos e os cristãos asiáticos chineses e de outras etnias nascidos em Macau.
18Tão abundantes e baratos eram os escravos japoneses, que também os marinheiros e bichos de cozinha por-tugueses compraram escravos que guardavam nos navios; e até os escravos negros dos portugueses se atreviam a comprar escravos no Japão. «Consulta tida pelo Bispo Cerqueira sobre os escravos comprados ou contratados e transportados para fora do Japão em 4 de Setembro de 1598», cift. por C. R. Boxer — «Subsídios para a História dos Portugueses no Japão» (1542 - 1647) in Bol. de Agência Geral das Colónias, ano III, n. ° 24, Junho de 1927, pp. 5-44).
19Nome local dado às raparigas chinesas. Á mui é a designação atribuída à irmã mais nova. Aliás, é uma forma carinhosa de tratamento habitual, relativa a uma rapariga jovem, por outra de mais idade, Á mui (irmã mais nova) equivale a Á tai (irmão mais novo). A palavra chái, neste caso deve, corresponde a diminuti-vo.
20Cf. I parte, cap. 3, 3.1.
21Padre Gabriel de Matos, carta cit. por Padre Manuel Teixeira — Macau no Século XVII, Macau, Imprensa Nacional, 1982, p. 7.
22O Padre Gabriel de Matos, S. J. foi Reitor do Colégio de S. Paulo do Monte, em Macau, nas primeiras déca-das do século XVII. Décadas da Ásia, 1736(3 vols.)Ðéc. XII, cap. XIV, p. 364.
23Sanções instituídas pelo vice-rei da Índia Matias de Albuquerque, em 1595.
24Na exposição do Padre Caetano Lopes, S. J., enviada ao rei de Portugal em 1715 pode ler-se: Desde a fundação de Macau começarão os chinas a trazer aquella cid. e meninos e meninas [...] já infantes, e athe id. e de 7 annos, raríssimas vezes de 10, ou 12 e nunca de id. e maior e vendião-nos aos Macaenses: os quais como floreciam em riqueza fazião com muito gosto as dtas compras. Alegavam que o faziam por caridade para tornaras crianças cristãs e também para lhes salvaras vidas porque os vendedores na sua maioria eram ladrões e se não vendessem as crianças as afogavam, matando-as para não serem descobertos. Raras vezes eram os vendedores os próprios pais ou mães e neste caso só quando pressionados pela mizéria. Por serem mercadoria de fácil venda os furtos multiplicavam-se por este negócio e a realizá-lo fora de Macau. (Mss. da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, Cod. CVI/2 - 7 fls. 84 - 89, fl. 86v).
25Segundo o Professor Doutor A. H. de Oliveira Marques a designação homem-bom deriva do latim medieval boni-homines (pl. de bonus- homo). Os homens-bons correspondem no plano político-judicial aos vizinhos do arreigamento topográfico, em parte aos herdadores de classificação económica e aos cavaleiros-vilãos de terminologia sócio-militar, sem se poderem, porém, confundir com qualquer deles. A documentação medie-val caracteriza os homens-bons como os mais ricos. Os mais notáveis, os mais respeitados chefes de família, as pessoas honradas por excelência dentro de cada povo-ado. Era aliás este o consenso de Macau: burgueses Ricos e os mais conceituados. Os homens-bons mono-polizavam os cargos municipais, decidindo questões administrativas e económicas.
26Nesta data, o Padre Caetano Lopes, S. J., missionário da China e Procurador a Roma pela Província do Japão, da mesma Companhia, defendeu, junto do rei de Portugal, a liberdade dos chineses, pedindo que não fossem, estes, comprados e obrigados a embarcar seguindo seus amos. Afirmava, na sua exposição, que, em Ma-cau, os atais e as amais (Á-mui ou mui-tsai) eram tratados quase como se fossem livres, podendo ser resgatados. Podiam, porém, ser vendidos fora de Ma-cau e, então, o seu tratamento era igual ao do dos demais escravos. Esta era uma forma pela qual os portugueses iludiam a proibição, tanto do rei de Portu-gal como das autoridades chinesas, de possuirem e traficarem escravos daquela nacionalidade (cf. chama-da 23).
27Em 1688 o mandarim da Casa Branca foi a Macau censurar os responsáveis pelo Senado por permitirem, os portugueses que residissem em Macau pessoas que vendiam e compravam crianças de ambos os sexos, exigindo a entrega dessas crianças e dos seus raptores. (P. Manuel Teixeira — Macau no Século XVI, Macau 1981, p.141).
28O art. 2 do decreto do imperador Man Lek (Wan Li) -(1573 - 1620), proibia aos portugueses comprarem súbdito algum do império chinês.
29Mss. do Arquivo Histórico Ultramarino (Mç. 1774).
30Oriente Conquistado a Jesus Cristo pelos Padres da Companhia de Jesus da Província de Goa, parte I, conq. IV, § 38, publ. em 1710.
31J. H. Linschoten — Histoire de la Navigation [...], Troisième Edition augmentée chez Evert Cloppenburgh, Amsterdam, 1638.
32Segundo Gaspar Correa (Lendas da Índia t.2, p. 221. Lisboa, ed. de 1860) as mulheres de Malaca são muito entregues a bem querer tanto que se tomam vontade com um homem, que não estimão perder por ele a vida. Daí, certamente, serem consideradas em Macau, pelos padres, as mais perigosas.
33Joseph Wicki — Documenta Indica I, 253 - 255, Roma, 1949.
34Francisco Carletti, em 1598 - 99, fala de um tufão e da festa do Ano Novo em Macau, e refere-se ao naufrágio, naquele porto, de uma nau do Reino do Sião, carregada de lenha, comumente chamada pau Brasil, dizendo que se safaram os marinheiros siameses com suas mulheres que costumam levar quando fazem longas viagens. Vários outros exemplos se podem citar: Fernão Men-des Pinto fala em mulheres salvas do naufrágio dum barco em que ele seguia. Em 1603 os holandeses tomaram a nau portuguesa, de 1500 toneladas, Santa Catarina, no Estreito de Johore, nau acompanhada dum junco carregado com provisões e que era co-mandada pelo capitão Sebastião Serrão. Nesta nau seguiam 700 pessoas incluindo 100 mulheres e cri-anças (P. Manuel Teixeira, Macau no Século XVII, Macau, 1982, p. 6).
35J. F. Ferreira Martins — Chronica dos Vice-reis e Governadores da Índia, vol. I, Lisboa, 1919, pp. 250 -251.
36Gaspar Correa — ob. cit., vol. 2, p. 324.
37F. D. de Ayala in O Oriente Português, série de 1904, p.192.
38Cartas de Afonso de Albuquerque, publicadas pela Academia das Ciências, tomo IV, Lisboa, 1910, p. 206 - 207 e 214 - 215. Da Carta datada de 20 de Dezembro de 1514 (tomo VI, 1915, pp. 188 - 191) consta uma relação nominal de casais luso-indianos.
39Christovam Aires de Magalhães Sepúlveda— História Orgânica e Política do Exército Português [...], Lis-boa, [1896- 1932].
40J. J. Campos — History of Portuguese in Bengal, Lisboa, 1919, pág. 170.
41J. F. Ferreira Martins — Chronica dos Vice-Reis e Gover-nadores da Índia, vol. I, Lisboa, 1919, pp. 250 - 251.
42Esta autorização sob a forma de Carta Régia, chegou a Goa já depois da morte de Afonso de Albuquerque, porém esta, já lhe fora dada, antes, verbalmente, pelo rei (Archivo Portuguez Oriental, publ. por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, fasc. 5, parte l. a, doc. 9; Filipe Neri Xavier — Bosquejo Histórico das Comuni-dades de Aldeias, 2, parte, Goa, 1852).
43C. R. Boxer — Fidalgos in the Far East, 1550 - 1770 — Fact and fancy in the History of Macao, Haia, Martinus Nijhoff, 1948.
44Lanoy e Hermann Van der Linden — Histoire de l'expansion coloniale des peuples européans —Espagne et Portugal, vol. I, Paris, 1907, p. 108.
45Frederico Diniz de Ayalla — Goa Antiga e Moderna, Nova Goa, 1888.
46D. João de Castro levou, na sua armada, 1545, um grupo numeroso de donzelas casadoiras (Carta de D. João de Castro, datada de Moçambique e dirigida ao rei D. João III citada por Germano Correia in «As Portuguesas nos Primórdios da Colonização da Índia», sep. do Bol. da Sociedade de Geografia de Lisboa, Nov. — Dez. de 1947, n. os 11 - 12 da 65. a série, Lisboa, 1948.
47Ordenações Filipinas datadas de 1595 e mandadas observar em 1603. Arq. Nac. da Torre do Tombo — Livro V, tomo IV. Destas Ordenações constam mais de 250 causas do envio de pessoas para o Ultramar.
48Livro de Alvarás. I — fól. 23 e Livro das Monções — 28 — fól. 323.
49Frederick Charles — The Portuguese in India — Danvers, 1894 — vol. II — p. 226.
50«Livro dos pezos da Índia, e assy medidas e mohedas escripto em 1554» in Subsídios para a História da Índia Portuguesa [...] por Rodrigo José de Luís Felner. Ed. da Ac. Real das Sciencias de Lisboa, tomo V (I). Lisboa, 1868 — Carta II — p. 13.
51O envio das órfãs para a Índia parece ter sido interrom-pido na segunda década do século XVII por Carta Régia de 1624, e, depois, efemeramente restabelecido, Germano Correia, «As Portuguesas nos Primórdios da Colonização Portuguesa», ob. cit.
52Francisco Mourão Garcez Palha — «Famílias portu-guesas estabelecidas na Índia, cuja varonia se extin-guiu» — in O Oriente Português, n. ° XVI, 1919, pp. 86, 186, 245 e 295 e tb. — Justiniano de Albuquerque — «Famílias Portuguesas estabelecidas em Chorão»— in Oriente Português, n. ° XVI, pp. 34 e 309 e XVII, pp. 103 e 198,1919.
53A. R. Disney — A Decadência do Império da Pimenta, Lisboa, 1981, p. 32.
54Em 1635, quando a cidade ainda vivia no seu apogeu comercial, A. Bocarro registou que Macau era uma das mais nobres cidades do Oriente [...] e de maior núme-ro de casados [...] Havia também muitos marinheiros casados no Reino, outros solteiros [...] E ainda muitos mercadores solteiros muito ricos [...] Alguns recea- vam a justiça de Goa e não queriam lá voltar. Mss. da Bibl. Pública e Arq. Distrital de Évora, Cod. CXVI/2 -1.
55Germano Correia — «As Portuguesas nos Primórdios da Colonização da India», separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Nov - Dez, de 1947, n. os 11 - 12 da 65.a série, Lisboa, 1948, p. 11.
56Christophe Pavlowski — Carta de Goa datada de 20 de Novembro de 1596.
57Dryepondt — in "Compte-rendu du Congrès Colonial International", Brunswick, Abril 1912, p. 305.
58Por uma Carta Régia de 22 de Fevereiro de 1601 sabe—se que, nesta data, viviam em Macau 600 famílias indo-portuguesas, o que leva a supor que as mulheres dos chefes de família portugueses de Macau tivessem sido levadas de Goa. Por outro lado, o movimento de pessoas entre Goa, Malaca, Macau e provavelmente outros portos do Oriente parece ter sido uma constante.
59Cf. I parte, cap. 2, 2. 1.
Em Goa, no século XVII, professavam mulheres de todas as praças do Oriente, até hispano-filipinas. Frei Agostinho de Sta. Maria, fazendo a História da Fun-dação do Convento da Sta. Mónica em Goa, afirma que era entre as molheres daquelle estado muito grande a devassidão. Muitos crimes e desforços se praticavam em virtude de tais costumes. O próprio Bispo deixou notícia de que em pouco menos de dois anos 52 mulheres nobres tinham morrido à espada [...] (Alberto Osório de Castro — «Um documento da vida conventual em Goa», separata dos n. os 1, 2 e 3 do II vol. do Archivo de Medicina Legal, publ. sob a direcção do Dr. Azevedo Neves, 1923). Em Macau, em 1681, havia uma guarnição de 150 soldados e dois a três mil cidadãos providos com 12 000 mulheres (Captain Alexander Hamilton' s—A new Accounte of the East India, Edimburg, 1727, cit. por C. R. Boxer in Fidalgos in the Far East [...] ob. cit., pp. 187 e 203).
61Mss. do Arquivo da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Cod. 510, fols. 223v - 225.
62C. R. Boxer— Ásia Portuguesa no Tempo do Vice-Rei Conde da Ericeira (1718 - 1728), Macau, Imprensa Nacional, 1970.
63O vice-rei conde da Ericeira, em carta dirigida ao bispo de Macau, acerca dos dotes legados por Manuel Faracho a 20 orfãs, excluia os marinheiros como possíveis pretendentes, pois eram considerados sem educação que possa prometer vida com sossego, nem ao menos se acha neles o saber ler e escrever. Eram considera-dos preferíveis os soldados graves ou homens hones-tos (C. R. Boxer, Á sia Portuguesa [...] ob. cit., p. 98).
64Numa carta do P. Alonso Sanchez S. J. dirigida a D. Filipe II pode ler-se: Los portugueses de Macau se casan com ellas (las mujeres chinas) de mejor voluntad que con las Portuguesas, por las muchas virtudes que las adornan (Cit. por P. Manuel Teixeira — os Maca-enses, Macau, 1965, p.. 2). O P. Alonso Sanchez esteve em Macau desde fins de Maio de 1582 até Fevereiro de 1583, nos princípios do estabelecimento da Cidade. É natural que a sua afirmação seja uma crítica à ligeireza de costumes que todos os autores coevos apotam às indianas, malais e euro-asiáticas de Goa, e que, possi-velmente, seria comum às de Macau. Estas portugue-sas a que o P. Alonso Sanchez se refere devem ser de facto as euro-descendentes porquanto as mulheres do Reino eram muito poucas, nessa altura, no Oriente, como já atrás ficou exposto.
65Joannes Laures, S. J. — The Catholic Church in Japan, Tokyo,1954, p.166.
66Carta do P. Longer, datada de 14 de Abril de 1770.
66aVárias fontes parecem confirmá-lo: — Duma frota enviada de Goa para Macau em 1613 perdeu-se um galeão com 200 pessoas a bordo, na passagem de Sanchez escapando 60 portugueses e 80 que não eram (Faria e Sousa — Ásia Portuguesa, Livraria Civiliza-ção, Porto, VI, pp. 34 - 35). Em 1621 - 1622 havia em Macau comerciantes de Cochim que ali haviam chega-do nas naus da Índia (Descrição das festas em honra da Imaculada Conceição em Macau, pelo P. Nicolau da Costa, S. J., cit. por P. Manuel Teixeira — Macau e a Sua Diocese, vol. IX, p. 160 - 162). — O escrivão do Senado Diogo Caldeira Rego, escreveu em 27 - 11 -1623 que havia em Macau mais de 400 portugueses casados, entre os quais alguns fidalgos [...] afora os muitos casados naturais da terra e de fora e outra muita gente de várias nações que por razão do grande trado e mercancia [...] vão e vem e nela residem o mais do ano (transcrito pelo P. Manuel Teixeira — Macau no Século XVI, Macau, 1982, p. 40).
67Carta de Francisco Pereira Marques a seu primo João Feliciano Marques Pereira (papéis do espólio de J. F. Marques Pereira — Mss. da Bibl. da Sociedade de Geografia de Lisboa).
68The Travels of Peter Mundy (1608 - 1667). R. C. Temple L. Austery Hakluyt Society (5 vols.), vol. III, parte II, s. d., pp. 159-316.
69Marco d'Avalo, cit. por C. R. Boxer— Macau na Época da Restauração, Macau, Imprensa Nacional, 1942.
70Jean François Galan de la Pérouse — Relation abreégée du voyage de la Pérouse, Leipsick, 1799.
71Ou Mun Kei Léok (séc. XVIII) — Monografia de Macau por Tcheong U Lam e Iâm — tr. do chinês por Luís Gonzaga Gomes — Macau, Imprensa Nacional, 1950.
72Segundo Navarrete, um pouco antes de 1667, o gover-no do Bispado mandara prender uma mulher por estar amancebada com um soldado tártaro. [... ] «Por aquele tempo, uma donzela, filha da gente mais grave daquela cidade meteu-se na China com outro pagão. Nos últimos anos muitas (mulheres) ganhavam a comi-da com os seus corpos, entregando-se aos pagãos. O governador desterrou sessenta.>> (Trans. por P. Manuel Teixeira, Macau no Século XVI, ob. cit., p. 111).
73Mss. do Arquivo Histórico Ultramarino (Recensea-mento da população cristã de Macau feita pelos páro-cos daquela cidade em 1774, Mç. 1774) — Cf. I parte, cap.2,2.1.
74Esta cópia foi enviada por Francisco Pereira Marques a seu primo de João Feliciano Marques Pereira, tam-bém primo, por via materna, de Albino Pereira da Silveira, irmão do noivo.
75Aliás, a expressão primo ou prima é frequentemente usada, em Macau, na acepção de parente.
76Ainda nos anos 1960 - 1970, quando um português casava com uma chinesa esta era, primeiramente, bap-tizada, recebendo um nome português, dado pela ma-drinha ou pelo futuro marido, que muitas vezes esco-lhia, para mulher, o nome da sua própria mãe. É de notar que estes casamentos, nesta altura, realizavam-se apenas entre chinesas e antigos soldados da guarnição, que se fixavam em Macau, geralmente na Polícia de Segurança Pública, ou entre aquelas e filhos da terra só excepcionalmente filhos das antigas famílias tradicio-nais macaenses. Neste caso, eram geralmente os "monos" (os que não saíam de Macau para estudar ou melhorar a sua vida), quem realizava casamentos deste tipo. Os outros casavam, preferencialmente, com europeias (quase sempre loiras) ou com as suas conterrâneas.
77Os magistrados chineses que redigiam o livro Ou Mun Kei Léok, já atrás citado, registaram, no entanto, um uso semelhante no séc. XVII.
78Inácio era o nome de St. ° Inácio de Loyola, muito venerado em Macau, devido às curas milagrosas que operavam as suas relíquias, por intermédio dos padres jesuítas. Rosário, refere-se a Nossa Senhora do Rosá-rio, assim como Conceição, sendo António o nome de Santo António, também muito venerado na cidade. Boaventura é um nome português, antigo, auspicioso por excelência e que muito agradaria a qualquer chinês.
Mss. da Bibl. da Soc. de Geografia de Lisboa. Macau dia a dia, diário do macaense Francisco António Pereira da Silveira (espólio de João Feliciano Marques Pereira).
80P. Manuel Teixeira — Os Macaenses, Macau, Impren-sa Nacional, 1965.
81Encontrámos, apenas, um caso, em vinte árvores genealógicas de três a cinco gerações que elaborámos.
Cf. I parte, cap. 2.
82José Ignácio da Andrade — Cartas escritas da Índia e da China, nos anos de 1815 a 1835, vol. II, Lisboa, 1847.
83Era proibido, por lei, aos soldados, casarem-se em Macau antes do final das suas comissões de serviço. Muitos viviam, porém, com chinesas ou com raparigas macaenses das classes sociais mais modestas e muitos foram os seus descendentes que ficaram no Território quando, aqueles, regressaram a Portugal. Este fenómeno parece ter sido uma constante ao longo dos séculos e era ainda frequente nos nossos dias (anos 1960 - 70).
84São de citar os estudos dos senhores Prof. doutores António de Almeida e Almerindo Lessa e de J. Ruffié.
85Cf. I parte, cap. 2., 2.1.
86A nossa amostragem é, apenas, de cinquenta e seis indivíduos, descendentes das famílias que nos servi-ram para estabelecer as constelações familiares que constam deste trabalho e que foram seleccionados em Macau e em Lisboa. estamos cientes da insignificância deste número, por isso mesmo, talvez, pouco significa-tivo (contudo, estamos certos do rigor da amostragem).
87F. S. Hulse — Migration and Cultural Selection in Human Genetics, in The Anthropoligist, volume espe-cial, Delhi, 1968.
88F. Scheider — Consanguinité et variations biologiques chez l'Homme, in La Recherche n. ° 31, 1976, p. 341.
89A. de Almeida — "Subsídio para o estudo do factor Rh em macaenses", in Trabalhos de Antropologia e Etnologia da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Centro de Estudos de Etnologia Penin-sular. Vol. XVII, fasc. 1/4, volume de homenagem ao professor doutor Mendes Corrês, Porto, 1959, Instituto de Antropologia, Faculdade de Ciências, pp. 445-449.
90A. de Almeida — «Contribuição para o estudo da Antropologia serológica dos nativos de Timor Portu-guês, de Macau e de S. Tomé e Princípe», in Estudos Ultramarinos, Revista do Instituto Superior de Estu-dos Ultramarinos, vol. V (1955), fasc. 1 a 3, Lisboa, pp. 293 - 295.
91Almerindo Lessa — A História e os Homens da Primei-ra República Democrática do Oriente, Biologia e So-ciologia de uma Ilha Cívica, Macau, Imprensa Nacio-nal, 1974.
92Esta definição apriorística do grupo dos macaenses invalida, de certo modo, os resultados.
93Francisco de Carvalho e Rêgo — Macau, Macau, Imprensa Nacional, 1950.
94O dialecto de Macau, vestígio do português como língua franca no Oriente, parece ter nascido, por um lado, da necessidade da simplificação gramatical da língua portuguesa para mais rápida aprendizagem por parte de povos das mais diferentes etnias, facilitando, deste modo, as relações comerciais, e, por outro lado, do enriquecimento da língua portuguesa, com vocábu-los de todos esses pontos por onde os portugueses passaram e se fixaram mais ou menos fugazmente.
95António de Oliveira Pinto da França — Portuguese influencein Indonesia, Djakarta, Gunung Agung, 1970.
96Dados por nós recolhidos no Japão em 1963 e em 1970.
97Tá-Ssy-Yang-Kuó — Archivos e Annaes do Extremo Oriente Portuguez. Colligidos, coordenados e anota-dos por João Feliciano Marques Pereira, Lisboa, Anti-ga Casa Bertrand — José Bastos, 1899 - 1904, 2 vols.
98Leopoldo Danilo Barreiros — Dialecto Português de Macau, in Renascimento, vols. I, II, III e IV, Macau, 1943-46.
99José dos Santos Ferreira — Macau sã assim, Macau, 1967, e Qui nova, Chencho, Macau, 1973.
100Graciete N. Batalha — <>, in Boletim do Instituto Luís de Camões — vol. II, 1968; <>, in Mosai-co, 1953, e Glossário do Dialecto Macaense, Coimbra, 1977.
101Graciete N. Batalha— Glossário do Dialecto Macaen-se, Coimbra, 1977, p. 6.
102Opinião de Graciete N. Batalha, expressa em cartas que nos foram dirigidas.
103Omitindo as palavras puramente chinesas usadas na linguagem corrente actual.
104Para Rafael Á vila de Azevedo, as palavras cará e siara são palavras macaenses originárias das línguas africa-nas (banta). Contudo, nunca encontrámos, em 15 anos de trabalho de campo, em Macau, estas palavras ali usadas no sentido que lhes atribui este autor (R. Ávila de Azevedo — A influência da cultura portuguesa em Macau — Biblioteca Breve, n. ° 95, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa, 1984, p. 51). Encontrámos no trabalho de Mons. S. R. Dalgado sobre o dialecto português de Damão a palavra bicho (de bich- filho) como uma palavra de origem africana. Daí o termo bicho aplicado aos antigos servos em Macau?
105Como exemplos, são de citar, Barão de Pau Preto — alcunha de José Vicente Jorge alusiva à riqueza do seu mobiliário chinês; Chiripo — alcunha de J. Roiz que ia de tamancos para a escola. Esta última alcunha perdu-rou, pelo menos, durante três gerações.
106Manuscritos de Bibl. de Soc. de Geografia de Lisboa, espólio de João Feliciano Marques Pereira.
107Gilberto Freire — Casa Grande e Senzala, 2 vols., Ed. Livros do Brasil, s. d.
108No caso de ter dois nomes próprios, é o último que se emprega precedido da partícula explectiva Á. Exem-plo: Chan Sec Pui = Á Pui.
109Não encontrámos, já, sequer, lembrança deste trata-mento, entre os nossos informadores, nos anos 60/70.
110Cf. I parte, cap. 3, 3.2.
111Amadeu Cunha — <>, publicado no Diário Popular, Lisboa, e transcrito in Boletim Geral das Colónias, ano XXVI, números 302/ 303, Agosto/Setembro, 1950, p. 233.
112S. R. Dalgado — Dialecto Indo-Português de Damão. Separata da Rev. Tá-Ssy-Yang-Kuo, Lisboa, 1903, p. 23.
113Informação oral do Dr. Alfredo Reis Borges e, ainda, Jorge Morais Barbosa, Estudos linguísticos — Criou-los — Introdução e notas de [...] — Edição da Acade-mia Internacional da Cultura Portuguesa — Lisboa, 1967, p.22.
114Os magistrados chineses que, no século XVIII, descreveram Macau e muitos usos dos macaenses, registaram que as <faziam bordados e bolos e doces>>. Esta tradição dos trabalhos de costurinha e de doçaria manteve-se através dos séculos, sendo prendas indispensáveis de uma menina portuguesa de Macau. Também em Goa as senhoras luso-descendentes tinham a paixão da culinária. Tal como as senhoras macaenses registaram as suas receitas em cadernos que se transmi-tiam de geração em geração e que nos primeiros anos de século XX eram ali, ainda, muito populares. Algumas receitas de doces haviam-lhes sido dadas pelas freiras ou pelas criadas dos conventos. (M. V. de Abreu — Real Mosteiro de Santa Mónica, cit. por Propércia Correia Afonso de Figueiredo — <> in Bol. do Instituto Vasco da Gama, n. os 2 e 3, 1928 e 5 e 6, 1929). É natural que, em Macau, algumas das receitas, ainda conservadas pelas senhoras filhas da terra, tenham tido uma origem semelhante.
115Espólio de João Feliciano Marques Pereira. Papéis sol-tos. Mss. da Bibl. da Sociedade de Geografia de Lisboa.
116Maria Micaela Soares — <>. sep. do Bol. Cultural da Assembleia Distr. de Lisboa. n. ° 88. T. I, Lisboa, 1983. Em Lisboa, no séc. XVII eram, também, vendidos fartes, pelo Natal, no Largo do Pelourinho (Robyu Amorim — Da mão à boca [...], Lisboa, 1987). A receita dos fartes ou fartês consta do Livro de Cozinha da Infanta D. Maria (séc. XV ou XVI), pub. por Salvador Dias Arnaut. Lisboa, Impren-sa Nacional — Casa da Moeda, 1987, pág. 130 - 134.
117Festa de Quarentonas (ou quarenta horas). É o nome antigo de Macau atribuído aos dias de Carnaval. Este nome é português e refere-se ao período de <>, correspondentes ao número de horas que Jesus esteve no Templo e do qual nasceu a adoração perpétua do Santíssimo. Dantes, no mundo cristão, este período não coincidia com o Entrudo, mas, posteriormente (em 1608 em Lisboa), transferiu-se para essa altura, para desaforo dos desmandos então praticados pela população em folia.
118O pinhão de Macau é amêndoa da azeitona branca chinesa (Canarium album Raeusch).
119Maria Celestina de Mello e Senna — Bons Petiscos por Celestina, 2.a edição, Ed. do CIT, Macau, 1977; António Vicente Lopes — Receitas da Cozinha Macaense, Macau, 1977; Maria Margarida Gomes — A Cozinha Macaense, Imprensa Nacional, Macau, 1984.
120O sambal é uma espécie de conserva feita com amargoso, tomates, carambolas, etc., que se cozem em água e sal e se cozinham, num tacho, depois de picados, sobre um esturgido de alho, cebola seca, cebola verde, chili, açafrão e balichão, regando-se com leite de coco, e juntado-se, por fim, jagra ralada.
121Maria Margarida Gomes — A Cozinha Macaense — Macau, 1984, p. 16. Há porém quem admita que o nome derive do japonês muchi sendo muchi o recheio de carne picada do bolinho que é, hoje, conhecido em Macau por este nome.
122António Vicente Lopes — Receitas da Cozinha Macaense, Macau, 1977, p.116.
122ACapella era um prato que se usava em Portugal pelo menos no século XVII. Era uma espécie de cozido que se preparava com carnes diferentes. Domingos Rodrigues— Arte de Cozinhar [...], Lisboa, MDCCXXXII, p. 19. A primeira edição data de 1693.
123Chiche quebabe é uma especialidade da culinária árabe que consiste numa espetada de carne de borrego temperada com especiarias e que serve com arroz, depois de grelhada.
123AOs confeitos eram, geralmente, apresentados envolvidos em papel de seda, com a forma de cachos de uvas ou de flores. Havia, em Macau, um recipiente e um pequeno instrumento metálico para os preparar. A forma de cachos de uvas (que mostra a figura), era a preferida para decorar as mesas dos chás gordos ou ceias de casamento, por simbolizar um voto de longa prole, de acordo com o pensamento chinês.
124Baji ou bagi é um bolo que se prepara com farinha de trigo e coco. Era, dantes, uma especialidade das freiras do convento de Santa Mónica em Goa. As bebincas, a alva-bagi, a alva-coco e o dudoll eram receitas, aliás, muito populares em Goa, onde senhoras indo-portu-guesas as publicaram nos anos 1929 - 30.
125Açúcar cristalizado; açúcar candy.
126Fécula extraída de várias palmeiras, entre elas Sagus levis.
127Transcrevemos, na íntegra, a informação que nos foi prestada pelo Senhor Jorge Midorikawa: «[...] Relativamente às palavras de origem portuguesa integradas na língua japonesa, há várias espalhadas pelo Japão inteiro e em número esmagadoramente maior as correntes em certas regiões da ilha de Kyushu, muito especialmente em Nagasaki.
Muchi, deformada de mochi, é um tipo de bolo de arroz. Mísso é uma pasta de feijão soja que serve para temperar sopas.
Quanto à kasutera, dizem ser derivada do bolo castelar. Hoje em dia kasutera é amplamente fabricada em todo o Japão e muito apreciada em todas as camadas sociais [...]. »
128Maria Margarida Gomes — A Cozinha Macaense, Macau, 1984, pp.7 - 8.
129Bebida considerada refrigerante e com acção medicinal contra calor interno.
130Linschoten, Jean Huygen — Histoire de Ia Navigation de Jean Hugues de Linschot (sic) Hollandois: Aux Indes Orientales [...] — Troisième edition augmentée — Chez Evert Cloppenburgh — Amsterdão, 1638.
131Propércia Correia Afonso de Figueiredo — «A Mulher Indo-Portuguesa», in Boletim do Instituto Vasco da Gama — n. os 2 e 3 — 1928; n. os 5 e 6 — 1929; n. os 7 e8—1930; n.°9—1931.
132Duarte Barbosa — Livro em que dá relação do que viu e ouviu no Oriente — Introdução e notas de Augusto Reis Machado, Agência-Geral das Colónias, Lisboa, 1946.
133Padre Manuel Teixeira — O Trajo Feminino em Macau do Séc. XVI ao Séc. XVIII, Macau, Imprensa Nacional, 1969.
134Seda grossa, talvez surah de seda, também conhecida, em Macau, por seda francesa.
135Goma extraída da madeira de Machilus thunbergii L., por decocção, a qual as mulheres chinesas e algumas macaenses usavam como brilhantina. Esta goma é conhecida, localmente, por pau-fá e é tóxica.
136Boletim Oficial de Macau, n.° 12, de 1907.
137Ana Maria Amaro — Três Jogos Populares de Macau — Chonca, Talú, Bafá — Edição do Instituto Cultural de Macau — Imprensa Nacional — Macau, 1984.
138Ana Maria Amaro — «Adivinhas populares de Macau»— Separata do Boletim do Instituto Luís de Camões, Imprensa Nacional, Macau, 1976, I parte.
139Litchi chinensis Sonn., frutos muito abundantes no Sul da China.
140Informadora D. Rosil de Costa (Malaca - 1972).
141Adolfo Coelho — «Os dialectos românticos ou neo-latinos na África, Ásia e América» — in Boletim da Sociedade de Geografia— n.° 3,2. a série, 1888, p. 130.
142Cit. por António Feliciano Marques Pereira — Papéis vários do seu espólio — Bibl. da Soc. de Geografia.
143Bharoda, ou baroda — terreno onde se semeiam legumes, (do conc. — mar, barad) — terreno alto e pedregoso, que só serve para semear legumes, no Concão. (Mons. S. R. Dalgado — Glossário Luso-Asiático, ed. de 1982, p. 140).
143ACaranda — fruto de carandeira (Carissa carandas L.); de conc. karand (mar, karvand) sânsc. Karamardda. O malaiala tem kuranda e o malaio karandang. Mons. S. R. Dalgado. Glossário Luso-Asiático. Ed. de 1982, p. 112). Sobre este fruto desprezível em Goa, onde a planta é muito vulgar em sebes. Garcia de Orta escreveu (Col. XIII) «[...] são árvores do tamanho da de medronheiro e a folha assi e a frol he muita e cheira a madresilva».
144Saiam significa saudade (do mal, saiang).
145Bordados a branco, a pontos de fantasia e a pesponto, para confecção de vestuário, em que consta serem exímias muitas escravas da Índia.
146Missangas e lantejoulas (termos locais).
147Os bolos de casamento malaios, bunga telor junjong, são constituídos por três, cinco ou sete pratos em madeira, de uns 3 a 4 centímetros de espessura, em forma de estrela, decorados com papéis vermelhos, recortados caprichosamente. Do prato inferior desce, até à base, uma vistosa saia rendada feita de missangas. Os bolos são em arroz pulú (arroz glutinoso) amarelo, e todo o conjunto é enfeitado com flores vermelhas que, em tufo, emergem, também do topo. Os temos com três tabuleiros destinavam-se ao povo: com cinco tabuleiros eram para os casamentos de príncipes, ao passo que, para os casamentos reais, apresentavam sete andares.
Três, cinco e sete são números auspiciosos para os mal aios.
A descrição dos referidos bolos de casamento, designa-dos por bunga telor junjong, foi-nos amavelmente feita pelo etnólogo do Museu Negara, de Kuala Lumpur. (V. Ana Maria Amaro, Jogos, Brinquedos e Outras Diversões de Macau, Macau, Imprensa Nacio-nal, 1976, pp.100- 104).
Em Portugal na região saloia, são ainda frequentes tabuleiros deste tipo para cumprimento de ofertas, por ocasião de certas romarias.
148Alberto Osório de Castro — «Um documento da vida conventual em Goa» — Separata, dos n. os 1, 2 e 3 do II volume (1923), do Archivo de Medicina Legal publi-cado sob a direcção do Dr. Azevedo Gomes.
149Frei Agostino de Santa Maria, História da Fundação do Convento de Santa Mónica em Goa (ob. cit., na ch. 60).
150Arquivos da santa Casa da Misericórdia de Macau, cod. n. ° 22, doações, 1829 a 1837, fls. I - IV.
*Doutorada pela F. C. S. H. da Universidade Nova de Lisboa; Professora do Instituto de Ciências Sociais e Políticas (Departamento de Antropologia). Membro de várias instituições internacionais, v. g. a International Association of Antropology.